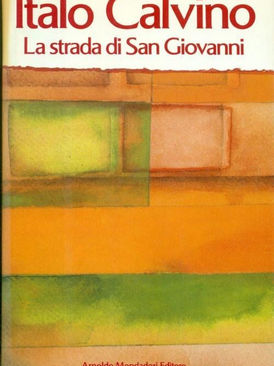- Jorge Campos
- 30 de jan. de 2021
- 6 min de leitura
São três livros lidos de enfiada nos últimos dias. São curtos, bem escritos e um deles com eficaz ilustração gráfica. Um quarto, por sinal o primeiro mencionado no texto, foi lido há mais tempo mas resolvi recuperá-lo dada a relevância da autora, Madeleine Albright, personagem de quem nunca gostei mas cujo testemunho, tratando-se de quem se trata, constitui um importante sinal de alerta. Todos estes livros foram recentemente publicados ou reeditados em português, com excepção do último Introducing Fascism - A Graphic Guide disponível apenas na versão em inglês. Sobre cada um deles ficam aqui algumas notas.

Sabe-se como a palavra fascismo é incómoda. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde durante décadas sucessivas Administrações deram corda a ditaduras de extrema-direita, designadamente na América do Sul, quando a questão se coloca a melhor maneira de a contornar é através da expressão we have a chalenge. Portanto, não se fala de fascismo, temos é um desafio. E um desafio ainda maior quando a incomodidade surge no plano interno onde, na verdade, se tem feito sentir ciclicamente. Basta recordar as organizações de supremacistas brancos como o KKK, o movimento America First do simpatizante dos nazis Charles Lindbergh, a caça às bruxas do senador McCarthy, as ações terroristas do FBI liderado por J. Edgar Hoover e, obviamente, na mais recente deriva mesclada de um pouco de tudo isso como foi o caso dos quatro anos da Administração Trump. Verdade seja dita, com maior ou menor dificuldade, a democracia americana conseguiu sempre encontrar antídoto para o problema, pelo menos, em casa. Na casa dos outros é outra conversa. Mas que o problema é sério, é. Ao ponto do valor de uso da palavra fascismo ter ressurgido exponencialmente nos Estados Unidos como o provam as numerosas obras entretanto publicadas nas quais aparece em título.
Sintomaticamente, a antiga Secretária de Estado de Clinton, Madeleine Albright, lançou não há muito tempo Fascismo, um alerta, já traduzido e publicado em Portugal. O livro é muito centrado em Mussolini e Hitler, bem como em algumas das manifestações de fascismo contemporâneo na Europa, caso da Hungria de Viktor Órban, embora obviamente tenha Donald Trump no centro da mira. Sendo interessante, nem por isso o livro deixa de ser enviesado uma vez que, em última instância, reverte sempre a favor de uma certa visão da política externa das Administrações do Partido Democrata.

Para se entender o fascismo é preciso ir bem mais longe excluindo, no entanto, a exclusividade de representações datadas como sejam coreografias centradas em camisas negras ou castanhas, forças militarizadas, violência institucionalizada, estado policial, política de terror, guerra, raça e sangue. Não que esses elementos não possam estar contidos na natureza do fascismo contemporâneo. Na maioria das vezes estão. Mas sem necessariamente replicar o cortejo de adereços e barbaridades tal como o conhecemos da História. O fascismo do século XXI, porventura tão criminoso quanto o do século XX, será diferente. Como diferentes foram, de resto, os diversos fascismos que chegaram ao poder no passado, não apenas na Itália e na Alemanha, em Espanha e Portugal, os mais próximos e familiares, mas também em países como, por exemplo, a Hungria de Miklós Horthy ou a Roménia de Ion Antonescu. Cito apenas dois dado que a lista seria longa. Bastaria lembrar os governos colaboracionistas que abraçaram com ardor a causa nazi excedendo a brutalidade do ocupante como sucedeu na França de Vichy. E lembrar, também, que o fascismo foi, é, uma patologia global com expressão em todos os continentes. Esta diversidade parte de um denominador comum. Explora um mal estar que atinge multidões de descontentes cuja circunstância as tornou vulneráveis à irracionalidade de mensagens construídas em torno de dicotomias como nós e os outros, os bons e os maus, os puros e os impuros. Para vingar, o fascismo precisa de explorar o descontentamento, instalar o medo, criar o caos.
Em O Eterno Retorno do Fascismo, um livrinho com pouco mais de 70 páginas publicado em 2010 e agora reeditado, do filósofo e ensaísta holandês Bob Riemen, há uma breve digressão sobre esse mal estar social cuja existência é muito anterior à lexicalização da palavra fascismo com o significado político que hoje lhe é atribuído. Em 1831, Alexis de Tocqueville detetou na jovem democracia americana uma multidão centrada apenas em si mesma, tendo como denominador comum o pensamento simplificado e absorvida na “busca de prazeres insignificantes e vulgares”. Diz ser uma forma de “servidão ordenada, calma e amena” conjugada com algumas formas exteriores de liberdade para a qual não encontrou designação porque “o fenómeno é novo”. Um século mais tarde, o filósofo espanhol Ortega y Gasset falaria em Rebelião das Massas. Apesar do progresso tecnológico, do conhecimento alargado, da circulação ampliada, a oportunidade histórica oferecida ao povo foi rejeitada por um novo tipo de indivíduo que recusou confrontar-se com valores intelectuais e espirituais, rejeitou escutar outras opiniões, reforçou o sentimento de poder, bem como o desejo de controlar. Assim nasceu o homem multidão, o homem massa, transversal a toda a sociedade, que se manifesta tanto entre os ricos quanto entre os pobres, nos cultos e nos ignorantes.

Este mal estar - explicitado por diferentes razões e diversos autores, por exemplo, Goethe e Nietzche - ressurge ciclicamente. No seu livro de 1912 Das Ressentiment im Aufbau der Moralen Max Scheler explica como uma cultura comum impregnada de ressentimento vai destruindo valores éticos, morais e civilizacionais. O homem que vive no ressentimento - diz Scheler - acaba sempre por ser fraco e por ter medo da sua liberdade. Como corolário: “A experiência da liberdade absoluta transformar-se-á num medo da liberdade profundamente enraizado e tornar-se-á enorme a necessidade de se conformar com as massas, com essas massas que mais não querem senão acreditar cegamente e seguir um líder carismático”.
Menno ter Braak, ensaísta e cúmplice do cineasta Joris Ivens na fundação da famosa Filmliga holandesa, foi dos que melhor souberam antecipar o que estava para vir, aliás, com consequências aterradoras para ele próprio que, aos 38 anos, seria levado ao suicídio para escapar aos nazis. No início dos anos 30 do século passado, identificando os sinais do tempo, Braak denunciou o clima de caos moral dominante como especialmente propício à ocupação do espaço político por parte de demagogos sem escrúpulos movidos por interesses e agendas pessoais. Os mesmos, de resto, que mais contribuíam para a confusão. O movimento que então alastrava pela Europa, segundo ele, tinha os seus alicerces num ressentimento cujas causas reais, muitas vezes, eram deliberadamente tidas como insondáveis. Sem qualquer solução para os problemas, sem ideias próprias, esse movimento não queria, na verdade, resolver o que quer que fosse posto que se alimentava - alimenta - da injustiça necessária à manutenção da calúnia e do ódio. Numa palavra, a calúnia pela calúnia, o ódio pelo ódio. Depois encontrou-se um bode expiatório, o judeu.
O terceiro livro chama-se Como Funciona o Fascismo - a Política do Nós e Eles. Foi publicado recentemente e é da autoria de Jason Stanley, Professor da Universidade de Yale, cujos pais foram refugiados do nazismo. Trata-se de uma visão muito pertinente com múltiplas referências à atualidade na qual basicamente se exploram o que Stanley considera os 10 pilares fundamentais do fascismo: O Passado Mítico; Propaganda; Anti-intelectualismo; Irrealidade; Hierarquia; Vitimização; Lei e Ordem; Ansiedade Sexual; Sodoma e Gomorra; Arbeit Macht Frei (O Trabalho Liberta). Para abreviar, reporto apenas a dois aspetos, não resistindo a estabelecer algumas ligações ao aprendiz de feiticeiro doméstico no qual parecem rever-se alguns que são fascistas, outros que sendo-o ainda não sabem que o são, bem como a maioria que julga ter feito um voto de protesto nas presidenciais sem perceber bem a natureza da coisa.

Em primeiro lugar, o fascismo faz reviver um passado mítico e glorioso de modo a legitimar um percurso cujas raízes mergulham num tempo longínquo, sem mácula, porventura anterior ao pecado original. Para os nazis esse passado era a sua versão peculiar do mundo clássico. Para Mussolini, a grandeza do Império Romano que ele imaginou poder reconstruir. O sujeito aqui da paróquia fez o seu arremedo mitológico ao estilo do Estado Novo visitando durante a campanha eleitoral os túmulos de Afonso Henriques e Nuno Álvares Pereira, bons portugueses.
Depois, o fascismo busca na linguagem a expressão de um sistema de crenças assente na distinção entre o Nós e o Eles. Exprime-se pelo ódio ao outro. No sistema de crenças nazi o Nós são os arianos puros, o Eles os judeus impuros, raiz de todo o mal. O mal aliás, seja ele bolchevique, liberal, socialista, homossexual artista degenerado ou o que quer que seja, é judeu. Para Mussolini, o Nós são os fasci di combattimento, os puros, o Eles são todos os demais. Aliás, se os camisas negras professam o terror e a violência a culpa não é deles, é da violência dos outros, ou seja, da violência má que obriga ao recurso da violência boa necessária à normalização da ordem superior. Por cá, o tal filhote e a sua corte são os Bons, os puros do anti-sistema, o Eles são todos os demais, os corruptos do sistema. Políticos, ciganos, pedófilos, mulheres que pintam os lábios de vermelho, subsidiodependentes, o que quer que não seja Nós é tudo farinha do mesmo saco, Vergonha!
Há ainda um quarto livrinho cuja leitura é fácil até porque tem desenhos. Também é relativamente recente e chama-se Introducing Fascism - A Graphic Guide. Os autores são Stuart Hood e Litza Jansz. Publicado em formato de bolso tem a enorme vantagem de podermos levá-lo para todo lado. Nos tempos que correm será sempre útil em qualquer conversa inopinada com elementos de populações em risco de levarem a sério os disparates do processo de normalização do fascismo em curso.

Jorge Campos
2021/01/30