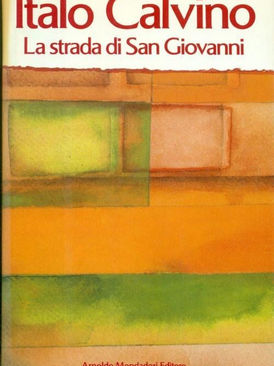- Jorge Campos
- 26 de dez. de 2020
- 6 min de leitura

Eis um bom livro. Dei com ele por mero acaso, a um preço irrisório, escondido nas prateleiras de uma livraria onde se exibia uma versão recente, em português, a custar quase quatro vezes mais. Não deve ser fácil traduzir Bob Dylan. Quem o conhece da música sabe que há coisas que só fazem sentido no inglês da América por ele utilizado. Por isso, tendo embora grande admiração pelo trabalho dos tradutores, optei pelo original. O preço, evidentemente, também contou.
Bob Dylan compôs mais de 500 canções. Acompanhou-me ao longo da vida, umas vezes mais, outras menos. Por diversas ocasiões e diferentes razões estive zangado com ele. Fez alguns discos extraordinários, outros, uma chatice. Deu um concerto em Israel quando não devia. Durante anos perdi-o de vista. Recuperei-o ocasionalmente numa ou noutra música, num ou noutro documentário, designadamente, em No Direction Home (2005) de Martin Scorsese. Não resisti ao seu triplo álbum dedicado ao Great American Song Book. Fiquei a pensar se ele tinha jeito para aquilo, mas gostei. Reconciliei-me com o seu último e surpreendente álbum Rough and Rowdy Ways (2019). Pelo meio, ganhou um Nobel da Literatura. Isso pesou na decisão de o trazer para casa neste Chronicles, volume I, publicado pela primeira vez há uns pares de anos e agora reeditado.

O livro rapidamente venceu a desconfiança de desencontros passados. Na narrativa na primeira pessoa, na descrição dos lugares e protagonistas, reconhece-se, logo de início, a força, atmosfera e originalidade das suas melhores canções, uma espécie de equivalente em prosa de uma poesia cujas raízes mergulham nessa cultura popular americana habitada por gente como Woody Guthry e Pete Seeger, por Leadbelly e pelos blues do delta do Mississipi, aqui e ali, também pela geração Beat, o gospel, o jazz e, claro, o rock’ n roll.
O primeiro capítulo, Markin’ Up the Score, é curto, introdutório. São os primeiros passos de Dylan em Nova Iorque. Após ter deixado a modesta casa do pai operário, no Minnesota, é para lá que vai em busca de algo que o transcenda, O segundo capítulo é longo, exploratório. Intitulado The Lost Land, fala de uma América ignorada, de lugares obscuros e heróis incómodos, da música folk e do seu espaço lavrado com o suor do rosto e o sangue do corpo dos pobres. Fala, igualmente, do calcorrear vagabundo pelas ruas da grande cidade, de guitarra às costas, cantando onde o deixam a troco de pouco, de bar em bar, de mulher em mulher, de casa em casa, até à descoberta do underground onde tudo pode acontecer. Nova Iorque é a terra prometida. Tal como a Lost Land que Dylan quer entender e resgatar.
É dessa terra esquecida que vem The Ballad of Joe Hill, um clássico de Alfred Hayes popularizado nos anos 30 por Paul Robeson, o extraordinário artista negro de poderosa voz de barítono que ousava cantar a Internacional em ações de luta dos trabalhadores. Joe Hill era não só um compositor e intérprete de música folk do princípio do século XX, mas também um destacado dirigente do movimento anarco-sindicalista. Condenado à morte e executado em 1914, após um julgamento fraudulento, tornou-se uma lenda da Lost Land e um herói dos deserdados. Para Dylan, The Ballad of Joe Hill seria o rastilho da descoberta de uma longa e sinuosa estrada pavimentada pelo trabalho da memória. Não se limita ao registo, procede como o garimpeiro. Escava, depura, escolhe e combina ritmos e palavras, faz composições inesperadas, encanta, magoa, surpreende. Provavelmente, surpreende-se a si próprio, certamente, a quem o lê, feito viajante.

Um escritor cria sempre uma rede de cumplicidades com o seu leitor. E o leitor reinventa-se na narrativa do escritor. Lendo Chronicles, estou subitamente em 1966 a bordo do comboio que liga Lourenço Marques a Joanesburgo. Tenho 18 anos. Acabo de sair de casa. Vou matricular-me na Universidade de Witwatersrand e ocupar um quarto alugado no Jorina Court, um lugar do qual se contam muitas histórias, nem sempre edificantes, é certo, mas sempre com tonalidades de fruto proibido.
É o tempo do apartheid. Viajo sozinho, numa cabine só para brancos, da qual sou o único ocupante. Tenho a cabeça cheia de dúvidas. Pela janela vejo a savana africana a correr vertiginosamente. O curso de Economia não me diz grande coisa. Pelo contrário, uma experiência nova agrada-me, muito. O comboio trepida naquela cadência inexorável de rodas de ferro sobre carris de metal. Um tipo ainda novo, alto, magro, com uma horrível cicatriz ao longo da face, entra sem se fazer anunciar. Tem um sorriso desagradável, mau. Fica a olhar para mim, de pé, sem dizer nada. Finalmente, pergunta-me o que faço ali. Tento explicar, mostro-lhe o bilhete. Rosna, sou da PIDE. Já suspeitava. Digo-lhe ao que vou, não quer ouvir. A cadência do comboio soa agora como uma ameaça. Pergunta-me pela morada, quer o nome do pai. Digo-lhe. A profissão. Médico. Ri-se, os olhos pequeninos semicerrados. Médico? Ri-se de novo, sardónico, se calhar nem sequer é enfermeiro. Novo silêncio ensurdecedor. O tempo suspenso. De repente, vira as costas e sai. Volta logo de seguida. Está, de novo de pé, à porta. Sibila, vê lá se tens juízo. Desaparece. Perco a noção do tempo, o comboio lá vai. Por fim, abranda. Joanesburgo.
Quando nessa noite entro com um grupo de amigos na obscuridade de um bar folk próximo de Hillbrow, onde depois voltaria tantas vezes, vejo um jovem de cabelo liso até à cintura, a dedilhar uma guitarra, sentado num banco alto sob um feixe de luz. Canta: I dreamed I saw Joe Hill last night/ Alive as you or me/ Says I, “But Joe, you’re ten years dead”/ “I never died”, says he/ “I never died”, says he. Ainda hoje me lembro desses versos, bem como de outros do próprio Bob Dylan, paladino da contra cultura, ícone do movimento pacifista contra a guerra do Vietname, bandeira da luta contra o apartheid, símbolo da geração de Woodstock, em suma, mensageiro da esperança. Nesse tempo, as canções corriam noite dentro, entoadas em coro enquanto a cerveja escorria garganta abaixo na expetativa de encontros auspiciosos. The Times They Are a-Changing, Blowin’ in the Wind. We Shall Overcome…
O devaneio acaba aqui. Chronicles não tem nada a ver com a retórica, passa simplesmente ao lado da gesta heróica. Recuperar a Lost Land e andar aos caídos e achados em Nova Iorque à procura de um rumo é uma coisa; outra é assumir o protagonismo consubstanciado nos rótulos que lhe foram sendo colados. O homem não está para aí virado. Salta toda essa fase da maior parte dos anos 60 onde outros viram a excelência da música e o pináculo de uma carreira para, no terceiro capítulo, ao qual dá o título do seu décimo primeiro álbum, New Morning, de 1970, se manifestar exausto da fama, cansado de fugir à legião de seguidores, sem paciência para jornalistas, sempre a procurar refúgio, ele e a família, longe da vista de todos. Aqui chegados, suspeito da quebra de cumplicidade com os leitores, pelo menos com alguns deles. O mito não cabe nestas linhas. Menos ainda, a hagiografia. Sobra Dylan a procurar reencontrar-se de novo com algo que o transcenda.
Se o passado conta, cristalizado, é morte. Antes a dúvida, olhar à volta, estar vivo. Porventura, até pedir clemência. Simbolicamente, o quarto capítulo chama-se Oh Mercy, o quinto, River of Ice. Para trás, ficou uma galeria de personagens famosas olhadas de forma peculiar, de Joan Baez a Ramblin’ Jack Ellliot, de Hank Williams a Ritchie Valens, de Elvis a Roy Orbison e Ediie Cocharn. Ficaram, também, memórias de Stan Getz, Charlie Parker e de outros grandes do jazz, bem como das luzes da Broadway, do cinema, do teatro, da literatura, da grande paisagem mosaico da cultura americana. Mas não há uma palavra, por exemplo, sobre a “heresia” de ter passado da música acústica à música elétrica, sobre vendas astronómicas, sobre o sucesso meteórico ou sobre Dont Look Back, o documentário clássico de D. A. Pennebaker, campeão do cinema direto, a propósito da controversa digressão no Reino Unido nos anos 60. Nada disso aparece.

Em contrapartida, há o relato circunstanciado de uma estada de meses em Nova Orleans para gravar um disco com um produtor sugerido por Bono dos U2, cujas ideias musicais entram em conflito com as suas, há longas play lists de música negra passadas nas rádios locais que ele passa o tempo a ouvir, há a atmosfera promissora da cidade do mardi gras, conhecida por Big Easy, onde tudo pode acontecer, há longos passeios pelo interior do estado da Luisiana com a mulher em cima de uma Harley-Davidson, há encontros inesperados com pessoas que tanto podiam ter saído de uma tela de Hopper quanto de um filme de Tarantino.
No capítulo final, River of Ice, contudo, faz uma pequena concessão aos tempos áureos, embora logo seguida de Dylan em movimento à procura de si mesmo:
“The folk music scene had been like a paradise that I had to leave, like Adam had to leave the garden. It was too perfect. In a few year’s time a shit storm would be unleashed. Things would begin to burn. Bras, draft cards, American flags, bridges, too - everybody would be dreaming of getting it on. The national psyche would change and in a lot of ways it would resemble the Night of Living Dead. The road out would be treacherous, and I didn’t know where it would lead but I followed it anyway (…) I went straight into it. It was wide open. One thing for sure, not only was it not run by God, but it wasn’t run by the devil either.”
Antes assim. Aliás, é esta a melhor maneira de reforçar a cumplicidade com o leitor.
Já agora, há 15 anos que se anuncia Chronicles, volume II...
2020/12/26