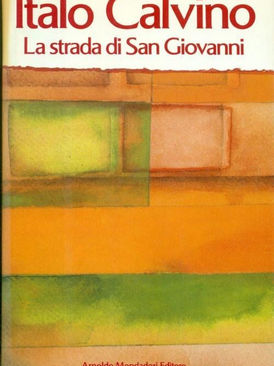- Jorge Campos
- 18 de out. de 2020
- 2 min de leitura
Atualizado: 13 de set. de 2022

Devido à acusação reiterada da filha adotiva, Dylan Farrow, de ter sido abusada por ele em 1992 quando tinha apenas 7 anos, este livro entrou na lista dos malditos. A editora Hachette foi sensível ao coro das indignações e desistiu da publicação. Celebridades cavaram trincheiras, contra e a favor, maioritariamente contra o cineasta, e até o circunspecto NYT saiu a terreiro para apontar o dedo ao degenerado Woody. Nenhuma operação de marketing teria funcionado melhor. Finalmente publicado, o livro esgotou várias edições. Em Portugal vai na 3ª. Saiu com uma capa negra e chama-se A Propósito de Nada. Impossível não ver aqui a impressão digital do autor. O Nada é ele próprio - neurótico, inseguro, inculto, mau clarinetista, realizador medíocre - mais as acusações de que foi alvo, as quais nunca foram dadas como provadas sendo, portanto, também, Nada. A capa é negra por lhe terem feito a vida negra. Dito isto, ler a autobiografia de Woody Allen é um bocado como ver os seus filmes, ou melhor, como ler os argumentos que ele próprio escreveu ao longo da vida. É divertido, observador, ágil, desconcertante, analítico. Sempre em desconstrução de si mesmo. Enciclopédico alegando ignorância. Sem nenhum problema em declarar candidamente ter gostado das polaroids tórridas feitas com a sua atual mulher Soon-Yi, 35 anos mais nova e enteada da antiga mulher ou companheira, nunca se chega a entender, Mia Farrow, esta uma espécie de bête noire na sua vida. Talvez por isso lhe faça grandes elogios enquanto atriz ao mesmo tempo que deplora a quantidade de processos judiciais que ela lhe moveu só explicável, segundo ele, devido à perversidade que a alimenta. Tendo sido a atriz principal de vários dos seus filmes, mesmo quando havia processos a correr entre ambos, Mia é retratada como um anjo de alma negra, um pouco à semelhança da personagem que encarnou no filme de Roman Polanski, Rosemary's Baby, onde vai ser mãe de um filho do diabo. Conta Woody que um dia, estando na Europa, Soon-Yi lhe comunicou terem sido convidados para uma festa em casa de Polanski. Estranhou, mas lá foram. E mais estranho ficou quando se apercebeu que o Roman era o Abramovich. Tudo o mais nesta autobiografia é o fascinante mundo do espetáculo americano. vale a pena ler. Depois, cada um pense o que bem entender. Declaração de interesse: eu gosto muito dos filmes de Woody Allen.