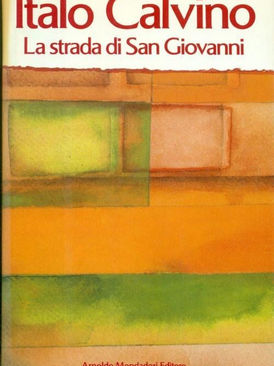- Jorge Campos
- 8 de jul. de 2025
- 10 min de leitura
Atualizado: 9 de jul. de 2025
Palma de Ouro da curta-metragem no Festival de Cannes de 1958, La Seine a rencontré Paris é uma pequena obra-prima do cinema documental. Numa primeira impressão, o que se vê são parisienses nas margens do rio com a grande cidade em pano de fundo. Evidentemente, é muito mais do que isso. A ideia partiu do historiador e crítico de cinema Georges Sadoul, creditado na ficha técnica, e o filme inscreve-se na tendência poética presente em toda a obra de Ivens, mesmo nos filmes politicamente mais empenhados, os quais, em diferentes tempos históricos, fizeram dele persona non grata em vários lugares do globo.
Neste caso, também há pinceladas de crítica social que resultam, essencialmente, da subtileza da montagem dialética de Gizèle Chéseau, a qual, através de pequenos sinais, vai mostrando as contradições da paisagem humana. O que prevalece no filme, no entanto, é o olhar despojado de um ensaio cinematográfico cuja matriz aponta para a avant-garde dos anos 20, em particular as sinfonias das cidades, embora sem a complexa organização textual que lhes está habitualmente associada. Mas, há, é claro, algo mais. Por um lado, a influência de Cartier-Bresson, em modo vérité, digamos assim. Por outro, a de Robert Doisneau, outro mestre da imagem fixa, que, nos anos 40 e 50, soube mostrar a gente de Paris como ninguém mais. E, já agora, acrescentar que La Seine a rencontré Paris foi filmado por André Dumaître, um cúmplice com quem Ivens voltaria a trabalhar em Le Mistral (1965).

Joris Ivens em Paris. Sem prescindir da errância habitual, que lhe valeu o epíteto de “Holandês Voador”, o cineasta foi viver para a capital francesa na sequência de uma longa controvérsia gerada em torno de Indonesia Calling (1946), um documentário produzido com fundos da australiana Waterside Workers' Federation. Encarado pelo governo da Holanda como um incentivo à autodeterminação da colónia, o filme foi censurado e Ivens, alvo de represálias. Entre outras, passou a ter os movimentos vigiados e viu o passaporte apreendido. Anos mais tarde, as autoridades dos Países Baixos viriam a lamentar publicamente a decisão. Fosse como fosse, Ivens acabou por fixar residência em Paris, que conhecia bem, e integrou-se facilmente na sua vida cultural e política. Desenvolveu uma verdadeira paixão pela cidade, denominador comum a todos os participantes da aventura de La Seine a rencontré Paris, em especial Jacques Prévert. Sobre a génese do filme, diria :
"J’étais amoureux de Paris. L’idée de départ, c’était la rencontre du fleuve et de Paris. C’est devenu un film sur les parisiens et ce qu’ils viennent chercher auprès de la Seine, ce qu’ elle leur donne. Le poème de Prévert a été fait après le tournage du film. Prévert a vu les images, a écrit un poème et il m’a dit: “Fais-en ce que tu veux”.
Portanto, se a ideia do filme foi de Sadoul, o texto que o acompanha é do poeta mais conhecido de França à época. Homem de espírito livre, com grande sentido de humor, Prévert não se inibia de ridicularizar as instituições e de satirizar os seus protocolos e titulares. Opositor da guerra, ligado aos movimentos pacifistas, implacável com o jogo de máscaras do poder, foi também um notável um notável escritor para o cinema. Nos anos 30 e 40, trabalhou em argumentos e diálogos de uma vintena de filmes. Entre outros, clássicos como Le Crime de monsieur Lange (1936) de Jean Renoir e Quai des brumes (1938) e Les Enfants du paradis (1945), ambos de Marcel Carné (1945). Noutra vertente, poemas da sua autoria foram interpretados por grandes nomes da chanson française como Ives Montand, Juliette Gréco, Edith Piaf e Serge Gainsbourg, o que fez dele uma figura imensamente popular.
Começa assim La Seine a rencontré Paris:
Qui est là
Toujours là dans la ville
Et qui pourtant sans cesse arrive
Et qui pourtant sans cesse s’en va
É um convite à descoberta do rio, de quem chega e de quem parte. Lido por outro gigante da canção, Serge Reggiani, o texto é belíssimo. Todavia, esclareço que utilizo aqui o verbo ler com relutância. Talvez recitar fosse mais adequado. Ou então, dizer. Não é uma questão menor. Escrever para o cinema documental impõe, as mais das vezes, que o texto seja redigido para ser dito, não lido, e só, eventualmente, recitado. Ora a palavra, na interpretação de Reggiani, é indissociável da modulação poética intrínseca às imagens do filme, ao que elas nos dizem. Se levanto a questão é porque som, voz e texto, dadas as múltiplas possibilidades combinatórias, viriam a ser uma preocupação central de Joris Ivens a partir do momento em que nasceu o cinema sonoro. Veja-se, a propósito, a sua primeira incursão nesse domínio, o extraordinário Philips-Radio (1931), encomenda da marca Philips. Ou as diferentes colaborações nesse domínio, designadamente, com o seu amigo Chris Marker, por exemplo, em ... à Valparaiso (1963).
Antecedentes, ideia, contexto. O primeiro rascunho de La Seine a rencontré Paris previa quatro partes correspondentes a outros tantos momentos identificados com o quotidiano das pessoas ao longo das margens do rio. O percurso culminava com cenas nas quais prevalecia a iconografia de monumentos tão conhecidos quanto a Catedral de Notre-Dame e a Torre Eiffel. A versão final não se afastou grandemente desse propósito. Mas fez sobressair os pormenores da vida a ser vivida quer em função do princípio do momento decisivo de Cartier-Bresson, quer de reconstruções, às quais Ivens recorria com frequência.



Numa primeira impressão, não fosse a questão do método, o guião não seria muito diferente dos da maioria dos numerosos filmes sobre o Sena realizados ao longo dos anos, sobretudo entre 1953 e 1959, quando o chamado Grupo dos Trinta deu nova vida ao documentário. Criado no pós-guerra para defender a curta-metragem francesa, o Grupo que, na verdade, chegou a mobilizar mais de uma centena de cineastas, juntava, entre outros, Alain Resnais, Pierre Kast, Chris Marker, Agnés Varda e Georges Franju. Boa parte viria a estar na primeira linha da Nouvelle Vague.
Ao contrário do que, por vezes, se pensa, o Grupo dos Trinta nunca se constituiu como algo de semelhante a uma unidade de produção. Porém, apesar da maioria dos filmes ser patrocinada por entidades patronais, culturais, sindicais ou outras, isso não impediu a concretização de obras que são, hoje, de referência do documentário francês. A título de mero exemplo, vejam-se os casos singularíssimos de Toute la Mémoire du Monde (1956) de Alain Resnais, sobre a Biblioteca Nacional Francesa, e de Dimanche à Pékin (1955) de Chris Marker, uma incursão improvável na grande cidade chinesa onde até aparece um urso de nome... Joris Ivens.
Também houve quem tratasse temas traumáticos como as guerras da Indochina e da Argélia, bem como a descolonização. Destaca-se, neste caso, o intemporal Les statues meurent aussi (1953) de Resnais, Marker e Cloquet que é, simultaneamente, um ensaio sobre a arte negra, um panfleto anti-colonial e um alerta sobre as visões etnocêntricas do mundo. Acrescente-se, ainda, o seguinte. Mesmo em obras com propósitos mais turísticos ou comerciais, encontram-se filmes estética e formalmente relevantes. Agnés Varda fê-los. Sendo o caso francês excepcional, e deixando de lado a debilidade de boa parte dos filmes de índole informativa e propagandística do pós-guerra financiados pelo Plano Marshall, nem por isso deve deixar de se sinalizar a pujança da produção documental europeia da década. De tal modo que o teórico e crítico de cinema Roger Odin, numa obra por ele coordenada reunindo textos de diversos autores europeus, olha para os anos 50 como L’Âge d’or du documentaire, o título do livro.



Foi, pois, nesta Idade de ouro do documentário que Ivens, conhecedor profundo quer do cinema europeu quer do soviético, com o qual trabalhou, decidiu fazer o filme segundo a ideia Sadoul. Às vezes, sendo autor de um cinema marcadamente político, segundo dizia, apetecia-lhe fazer outras coisas. Terá sido o caso. La Seine não foi, porém, a sua primeira incursão cinematográfica centrada na capital francesa. Na verdade, trinta anos antes, numa altura em que os filmes sinfonia exprimiam o fascínio dos autores pelas cidades, fez Études des mouvements à Paris (1927), uma curta-metragem experimental de apenas cinco minutos.
No ano seguinte, um outro pequeno filme, De Brug (A Ponte), chamaria pela primeira vez a atenção sobre Joris Ivens enquanto cineasta. E, logo a seguir, em 1929, surgiu Regen (Chuva) obra de referência daquilo a que Sadoul chamaria "la troisième avant-garde". Por essa altura, Ivens tinha já fundado com o escritor Menno ter Braak a Nederlandsche Filmeliga, associação que, entre outros objetivos, se propunha divulgar o cinema de vanguarda soviético, bem como os filmes abstratos de cineastas como Hans Richter, Walther Ruttmann e Viking Eggeling.
De Brug explora visualmente a estrutura da recém-construída ponte de Koningshaven, em Roterdão com a sua complexa mecânica de articulações posta em marcha pelo desempenho dos trabalhadores. Explorando plasticamente linhas verticais e horizontais, bem como a luz do dia, Ivens compõe uma tela na qual figuração e abstração criam uma vibração poética latente em todo o filme. O mesmo sucede com Regen, feito em parceria com o cineasta Mannus Franken, cujo nome, por razões que não cabem nestas linhas, viria a ser progressivamente obliterado. Regen é um filme sobre um dia de chuva em Amesterdão. Ou era suposto ser. Numa carta dirigida a este mesmo Mannus Franken, datada de Outubro de 1927, Ivens dava conta de uma extraordinária experiência. Dizia que andava à chuva, filmava, olhava, voltava a filmar, voltava a olhar, e que esse método lhe proporcionava uma espécie de metamorfose reveladora, que ia para além da chuva propriamente dita. Num ensaio publicado em 1930 intitulado The Spirit of Film, o teórico, crítico e cineasta húngaro Béla Balázs, alinhava pelo mesmo diapasão:
“The rain we see in the Ivens film is not one particular rain which fell somewhere, some time. These visual impressions are not bound into unity by any conception of time and space. With subtle sensitivity he has captured, not what rain really is, but what it looks like when a soft spring rain drips off leaves, the surface of a pond gets goose-flesh from the rain, a solitary raindrop hesitatingly gropes its way down a windowpane, or the wet pavement reflects the life of a city. We get a hundred visual impressions, but never the things themselves; nor do these interest us in such films. All we want to see are the individual, intimate, surprising optical effects. Not the things but their pictures constitute our experience and we do not think of any objects outside the impression. There are in fact no concrete objects behind such pictures, which are images, not reproductions.” (Béla Balázs, Béla Balázs : Early film theory : Visible man and the spirit of film (New York: Berghahn Books, 2011), 160-161.)

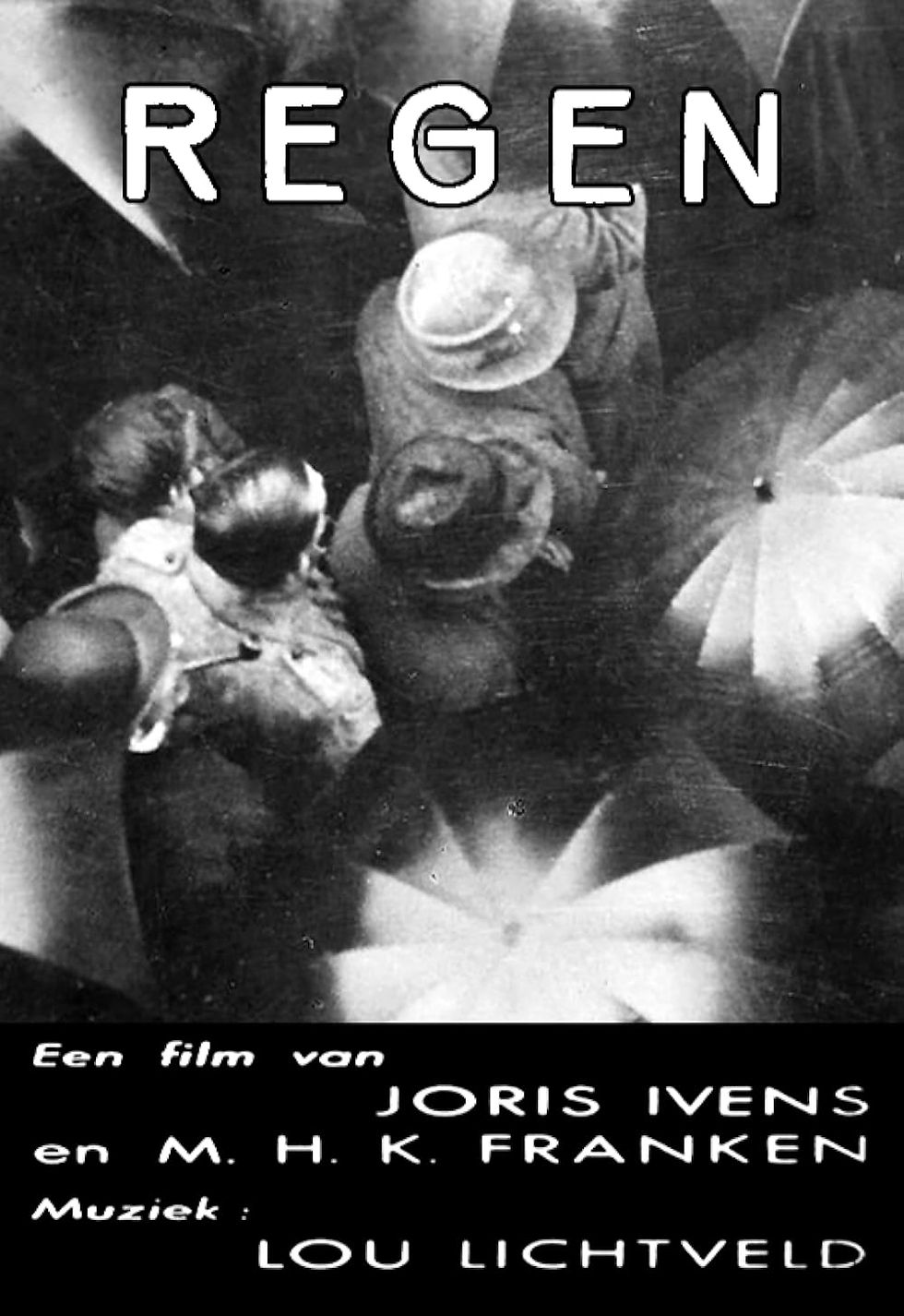
De certo modo, pode dizer-se que com La Seine a rencontré Paris Joris Ivens como que retoma os caminhos de De Brug e Regen. É certo, mas a questão não se esgota aí.
Em primeiro lugar, por razões ideológicas, as mais das vezes ausentes da memória e mescladas de ignorância, voltaram os juízos sobre um cineasta retórico, cujos filmes estão datados, fora do tempo. Não surpreende, atendendo, justamente, aos sinais do tempo. Por isso, reitero: não há filmes de Joris Ivens sem espessura poética. Mas, para o entender, é preciso pensar o olhar.
Em segundo lugar, entre as sinfonias urbanas do cineasta nos anos 20 e La Seine a rencontré Paris há uma diferença substancial. O quê? A paisagem humana. Se nas duas primeiras prevalece o formalismo que permite a composição de telas impressionistas nas quais as pessoas como que se dissolvem na textura, o que ganha maior relevância textual no filme do rio Sena são justamente as pessoas, a vida a ser vivida. A ideia inicial de Georges Sadoul, aliás, passava por aí, ou não fosse ele próprio um admirador do mestre do moment decisive, Henri Cartier-Bresson. E quanto às palavras de Jacques Prévert, que dizer? Pois sintetizam um universo do qual faz parte a cidade, as pessoas que a habitam e um rio. O que é, então, o rio, o Sena? Às imagens de Dumaître/Ivens, junte-se a voz de Reggiani que diz:
C’est un fleuve
répond un enfant
un devineur de devinettes
Et puis l’œil brillant il ajoute
Et le fleuve s’appelle la Seine
Quand la ville s’appelle Paris
et la Seine c’est comme une personne
Des fois elle court elle va très vite
elle presse le pas quand tombe le soir
Des fois au printemps elle s’arrête
et vous regarde comme un miroir
et elle pleure si vous pleurez
ou sourit pour vous consoler
et toujours elle éclate de rire
quand arrive le soleil d’été


Ivens, o humanista. Longe do fascínio futurista das grandes sinfonias, por exemplo, Berlin - Die Sinfonie der GroBstadt (1927) de Walter Ruttmann ou O Homem da Câmara de Filmar (1929) de Dziga Vertov, La Seine a rencontré Paris foi, por vezes, descrito como une petite valse musette, género musical muito popular, habitualmente animado pelo acordeão, dançante, tipicamente parisiense. Tal dever-se-á, certamente, à leveza, fluidez dos movimentos, agilidade da montagem, ironia do olhar, simpatia por gentes de todas as classes surpreendidas na sua espontaneidade. Na verdade, em algumas cenas, Ivens não se inibiu de utilizar a câmara oculta para mostrar a vida tal qual, como preconizava o seu mestre Vertov. Mas, como se disse, há também reconstruções. É o caso dos modelos femininos que se exibem para os fotógrafos de moda numa das margens do rio. Quer o reconstruído dissimulado quer o natural espontâneo, produzindo um efeito de contraste quase subliminar, são essenciais à criação da atmosfera do filme, discretamente sublinhada pelo encantamento da partitura musical de Philippe Bloch. Há um bateau mouche que navega as águas do rio. Há os parisienses nas margens. Há a grande cidade em fundo, sentida como o encantamento de uma melodia:
Il était une fois la Seine
il était une fois
il était une fois l’amour,
il était une fois le malheur
et une autre fois l’oubli
Il était une fois la Seine
il était une fois la vie.

JC/Arquivos (1994-2025)