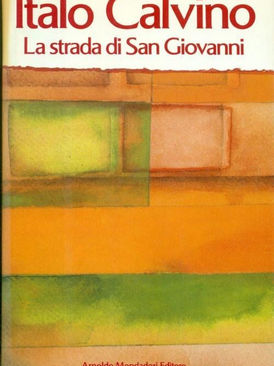- Jorge Campos
- 16 de nov. de 2024
- 22 min de leitura

Adeus, até ao meu regresso (1974) não será dos filmes mais conhecidos de António Pedro Vasconcelos. No entanto, a meu ver, é dos mais interessantes. Exibido pela primeira vez no final de 1974, na RTP, no mesmo espaço onde durante anos passaram as chamadas mensagens de Natal dos soldados destacados nas colónias, foi o primeiro filme português a abordar a temática da guerra colonial. Se outro mérito não tivesse, esse, só por si, por razões históricas, seria bastante para o recomendar. Mas há mais. Nunca foi fácil ao cinema, em lado algum, acertar contas com o passado traumático. Há feridas que levam tempo a sarar. Lidar com elas exige criteriosa mediação institucional, absoluto respeito pelo outro. É preciso encontrar a forma certa de dizer o que deve ser dito, sem deixar espaço à ambiguidade. Também por isso, Adeus, até ao meu regresso merece ser revisitado. O cinquentenário da Revolução de Abril, ano da morte de António-Pedro Vasconcelos, é o momento adequado para o fazer.
Este texto obedece ao princípio da História Cultural do Cinema de tudo pôr em relação. Ha nele considerações tidas como pertinentes no sentido de urdir uma tela de fundo perante a qual os contornos do filme ganhem nova evidência, eventualmente, aclarando hipóteses e dúvidas em suspenso. Nesse sentido, o recurso à memória e ao pensamento sobre o documentário são insubstituíveis. Mas há uma outra dimensão, de carácter pessoal, igualmente pertinente, com a qual começo reportando à relação que tive ao longo dos anos com o
António-Pedro Vasconcelos, um cineasta com quem, dele discordando muitas vezes, tive o gosto de privar, mesmo se em contexto de turbulência. Não sei se o retrato a seguir esboçado é inteiramente justo. Corresponde, no entanto, ao intuito de lhe fazer justiça, sem iludir as questões mais sensíveis no quadro das circunstâncias partilhadas e da circunstância existencial de cada um de nós.
ACTO I
Toda a gente o conhecia por A-PV. Eu tratava-o por António-Pedro. Propenso à polémica, sempre metido na defesa de causas cidadãs, eventualmente iconoclasta, ostensivamente desafiador, contraditório, era capaz de gerar tanto ódios de estimação, por vezes ferozes, quanto amizades incondicionais. A dada altura comecei a olhá-lo como alguém que parecia viver e apreciar a sua própria personagem. Vejo-o de chapéu de aba larga, a fumar charutos cubanos, sorriso entre o amigável e o condescendente, olhando o mundo do alto do seu metro e noventa de altura como se tudo à volta fosse parte da cena de um filme realizado por ele próprio.

Conheci-o no dia da ante-estreia de O Lugar do Morto (1984) numa das salas dos Cinemas Lumière, no Porto, à qual fui na companhia do Manuel António Pina, que fez as apresentações. Tendo Ana Zanatti e Pedro Oliveira nos principais papeis, o filme foi um sucesso quer junto do público quer da crítica, a qual, a partir de então, verdade se diga, frequentemente lhe voltaria as costas. Na altura gostei de O Lugar do Morto. Disse-lho. Agradeceu e começou uma digressão sobre o noir americano, aliás, logo interrompida, dado o número de pessoas que se foi juntando à sua volta para o felicitar. A partir daí, procurei ir vendo os seus filmes. Reconheço duas fases na sua obra cinematográfica.

Na primeira, influenciada pela estadia em Paris nos anos 60 do século passado, é evidente a presença da Nouvelle Vague. Cabem filmes como Perdido por Cem (1973), Adeus, até ao meu regresso (1974), Oxalá (1980) e o já mencionado O Lugar do Morto, dir-se-ia que uma obra de transição. Revemos aqui o bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian no curso de Filmografia da Sorbonne, o frequentador assíduo da Cinemateca Francesa e o leitor compulsivo dos Cahiers du Cinéma - ele próprio viria a ser um crítico acutilante em O Diário de Lisboa e na revista Cinéfilo dirigida por Fernando Lopes.
Na segunda, iniciada com Jaime (1999), vencedor da Concha de Prata do Festival de San Sebastian, aproxima-se da narrativa clássica procurando fazer filmes para o grande público. Opta pela estratégia do cinema de género. Entre outros, há títulos como Os Imortais (2003), Call Girl (2007), Os Gatos não têm Vertigens (2014) e Parque Mayer (2018). Tratam fundamentalmente da realidade portuguesa, mas não deixam de citar movimentos como o neo-realismo italiano, em Jaime, ou cineastas como Jean Renior em Parque Mayer. Nesta fase, fez alguns dos filmes mais vistos em sala em Portugal. O modo como os defendeu e se posicionou perante os seus pares, mais próximos da política dos autores, e perante a crítica, por vezes demolidora, deu origem a um afrontamento com impacto na definição dos caminhos e das políticas do Cinema e do Audiovisual. Dessa veemência e determinação, frequentemente revertidas em contundência e provocação, tenho
boas recordações. Estivemos do mesmo lado da barricada em múltiplas causas cívicas, por exemplo, aquando das tentativas de privatização do serviço público de televisão ou da entrega da TAP a interesses privados. Noutras ocasiões, batemos de frente. Foi o caso do Acordo Ortográfico, designadamente quando voltou a ser discutido na Assembleia da República. Sendo eu, na altura deputado, favorável, embora com reservas, passou ele muitas horas a tentar convencer-me a mudar de opinião. Facultei-lhe basta documentação, designadamente pareceres de linguistas, os quais para alguma coisa terão servido, posto que acabaria por me dizer que “às vezes, os linguistas são gente complicada”. De seguida, voltava com redobrada energia àquilo que dizia ser um dos combates da sua vida. Ficou desagradado com a minha intervenção no Plenário. Garantiu-me que haveria de vencer aquela batalha.

Com o Cinema passou-se algo de semelhante. Protagonista do Novo Cinema Português, apesar de apenas ter chegado à realização de uma longa-metragem, Perdido por Cem, em 1973, foi convidado regular dos cursos de Cinema por mim orientados ao longo dos anos, bem como dos ciclos de Programação a eles associados. O mesmo sucedeu na Odisseia nas Imagens do Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura, da minha responsabilidade, durante a qual algumas das suas participações, por razões diversas, ainda hoje são lembradas. Por exemplo, na retrospectiva integral dedicada a Luchino Visconti tratou de o demolir, não se coibindo de lhe chamar “um costureiro” devido, entre outras razões, à orquestração barroca dos filmes, designadamente em termos de adereços, música e guarda-roupa. Salvou, no entanto, a fase neo-realista do cineasta italiano.
Noutra ocasião, também em 2001, no ciclo Os Lugares da Imagem que teve participação, entre outros, de Margarida Ledon Andión, Juan Fontcuberta e Román Gubern, fez uma apresentação exaustiva sobre As Novas Tecnologia e o Futuro da Ficção. Segundo ele, podia ler-se a História do Ocidente “como uma ficção ininterrupta que nasce com a Bíblia, os poemas homéricos, a mitologia e a tragédia gregas, e se prolonga, a partir do Humanismo, até ao século XX.” Ao longo de duas horas dissertou sobre os altos e baixos desse percurso, sobre os episódios de esplendor e obscurantismo, o silêncio ou silenciamento dos artistas, os momentos de ruptura criativa, enfim, sobre a “História da ficção no Ocidente, que se transmite de século em século, de um centro civilizacional para outro: Florença, Roma, a Inglaterra de Isabel I, a corte de Luís XIV, a ópera italiana, finalmente Hollywood.” Afirmava, a concluir, que o século XXI, em função das tecnologias dominantes, nascia sob a ameaça de um corte radical com essa tradição de artistas e heróis enquanto seres fora do comum:
“A televisão, ao dispensar o autor-demiurgo e ao considerar que qualquer indivíduo é portador de uma ficção, ameaça pôr fim a essa cadeia de mais de 2.000 anos. Le cinéma c’est la mémoire, la télévision c’est l’oubli, disse um dia Godard. Estaremos perante uma revolução, que se poderia traduzir pelo fim do Humanismo, ou apenas perante uma crise transitória dos valores que fundaram, para além de todas as rupturas, a nossa civilização? Será que, como disse Valéry, les civilisations sont mortelles?”
Ao contrário do que poderia inferir-se à conta da citação de Godard, António-Pedro Vasconcelos nunca voltou as costas à televisão. Desde logo, o seu interesse pelo audiovisual ia além das questões relacionadas com o discurso e a narrativa. Preocupavam-no, igualmente, as políticas para o sector. A convite de Santana Lopes, então Secretário de Estado da Cultura de Cavaco Silva, assumiu a presidência do Secretariado Nacional para o Audiovisual, criado em 1990. Segundo dizia, só aceitara o cargo após aprovação pelo titular do governo de um documento estratégico elaborado por ele próprio. Em 1993, bateu com a porta por discordar na nova Lei de Bases. Mais tarde, o comissário europeu João de Deus Pinheiro atribuiu-lhe a tarefa de presidir ao grupo de trabalho encarregado da elaboração do Livro Verde para a Política do Cinema e Audiovisual Europeu. Achava aliciante, por outro lado, a possibilidade de explorar a narrativa televisiva. Ouvi-o, a propósito, elogiar Rosselini. Não só apreciava nele a rugosidade, as pequenas imperfeições que tornavam os seus filmes poderosos, mas também as suas expectativas sobre a televisão, a qual, a partir de determinada altura, o cineasta italiano acreditou ser um veículo privilegiado para dar a conhecer a História da Humanidade.
A partir de 2015, pertencendo ele a uma Associação de Realizadores, tivemos longas conversas na Assembleia da República - e fora dela - sobre o financiamento do Cinema e do Audiovisual. Sendo um conhecedor profundo do cinema português, era capaz de ser extremamente contundente não se coibindo, estabelecendo comparações, de lançar ataques ferinos aos seus opositores mais próximos do cinema autoral. Frequentemente avançava argumentos respaldados no passado. Um dia - refiro-o porque o disse publicamente - acusou-os de terem mentalidade de Estado Novo visto só quererem financiar um determinado tipo de filmes. A réplica da outra parte não era mais simpática. Havia quem se lhe referisse como o António Lopes Ribeiro do regime. De passagem, ia-me dizendo incorrer eu no risco de também só querer fazer um tipo de filmes, mas nunca senti da sua parte qualquer acrimónia. De resto, dei sempre as nossas conversas como tempo produtivo. Ouvi-lo era como fazer o percurso dos últimos 50 anos do cinema em Portugal, tomar conhecimento de viva voz de um ponto de vista, o seu, sobre episódios que mapearam o passado dos caminhos do presente. Sempre gostei do modo como ia à luta, bem como das longas derivas durante as quais simplesmente falávamos de cinema. A propósito, ao contrário de Rosselini, um dos seus preferidos, não sei se por convicção ou provocação, dizia desde há alguns anos, cobras e lagartos de Godard. Nunca mais fez um filme de jeito a seguir aos primeiros tempos da Nouvelle Vague, dizia ele. Truffaut, pelo contrário, encontrara o caminho certo. O Godard está muito presente nos teus primeiros filmes, em Perdido por Cem, argumentava eu, em
Adeus, até ao meu Regresso… era um bom ponto de partida para puxar a fita atrás e fazer a demonstração, recuperando episódios e nomes de filmes, de que o cinema dele, António-Pedro, cumpria uma linha de coerência inatacável. Considerava-se um cineasta comprometido, todavia, mal-amado. Para ele, Call Girl (2007) era o mais político dos seus filmes, porém, incompreendido. Volta e meia, investia contra a crítica. Essa estupenda energia está plasmada de forma feliz no título do documentário de Leandro Ferreira e Pedro Clérigo sobre a sua vida e obra: Um índio em pé de guerra (2019).

Em 1974, logo após a Revolução, o índio, tal como tantos outros cineastas, participava no movimento de mobilização, sem paralelo, a favor de um cinema liberto das algemas do passado. Muitos eram da geração de 60 ligados ao Novo Cinema Português. Outros, como José Álvaro Morais, assistente de realização em Adeus até ao meu regresso, viriam a afirmar-se como referências da geração seguinte. Dessa mobilização transformadora assinala-se, como faz, entre outros, José Filipe Costa, um momento seminal, simbólico. É a manifestação do dia de 29 de Abril, em Lisboa, à qual se juntou gente do Teatro e das actividades culturais, que fez o percurso entre o jardim do Príncipe Real, onde ficava a sede do Sindicato dos Profissionais de Cinema, e o jardim de São Pedro de Alcântara, lugar do Instituto Português de Cinema. Nesse itinerário reconhecia-se, igualmente, a memória de episódios relevantes. João César Monteiro, por exemplo, filmara Quem Espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço (1971), no Príncipe Real, e António Lopes Ribeiro A Revolução de Maio (1937), em São Pedro de Alcântara.
Com Fonseca e Costa, Seixas Santos, Fernando Lopes, Luís Galvão Telles e Lauro António à frente da manifestação, os cineastas exigiam a exibição de filmes portugueses e estrangeiros proibidos pela censura, não deixando de proclamar a motivação política que os animava. De cunho marcadamente ideológico, essa motivação levaria à formulação de um conjunto de requisitos considerados fundamentais para fazer do cinema uma alavanca revolucionária. Entre as várias medidas que então se perfilaram, destacavam-se a criação de Cooperativas de Produção subordinadas ao Instituto Português de Cinema, assim como o incentivo à produção de documentários por se entender ser esse o modo de melhor servir o propósito de reflectir sobre os problemas e contribuir para a sua resolução. Ambas as medidas viriam a revelar-se importantes. Contudo, mesmo tendo em conta a circunstância portuguesa, nenhuma delas era original. Ambas incorporavam, como, de resto se impunha, a
memória documentário de outras experiências. Em tempo de crise, fosse em países europeus fosse fora da Europa, o cinema documental foi recorrentemente encarado no plano cultural tanto como ferramenta de informação e esclarecimento, quanto de propaganda e condicionamento. A outro nível, no plano estético houve sempre um movimento pendular, dialéctico, em torno do essencial, ou seja, entre o que seria a pulsão jornalística ditada pela urgência de responder à emergência do momento, por um lado, e o trabalho de criação, a poética, sem o qual pouco ou nada sobra do Cinema, por outro. O primeiro exemplo desta clivagem encontra-se de forma exuberante no movimento documentarista britânico criado pelo escocês John Grierson no final dos anos 20 do século passado.
Foi Grierson, por razões ligadas à propaganda do Império, quem propôs fazer do filme documentário um elo entre a metrópole e as colónias, foi ele quem alertou para a necessidade do chamado “tratamento criativo da actualidade”, portanto da aproximação ao real através da arte, mas também foi ele quem, após o advento do cinema sonoro e a expansão das actualidades cinematográfica, relegou o belo para segundo plano considerando o documentário anti-estético por natureza. Durante a II Guerra Mundial, inclusivamente, foi o responsável de newsreels do National Film Board do Canadá, aliás, igualmente, fundado por ele próprio. Com diferentes matizes, este tipo de contradições foi recorrente ao longo do século XX. Meros exemplos, na América rooseveltiana com os chamados filmes de mérito de Pare Lorentz, mais tarde, sob a batuta do lendário Edward. R. Murrow, da CBS, quando o documentário jornalístico se impôs na televisão e, reportando ao que nos ocupa, fazendo-se sentir, inevitavelmente, diria eu, em boa parte da impetuosa produção que se seguiu ao 25 de Abril.

Cineastas do Novo Cinema Português foram bolseiros, nos anos 60, em França e em Inglaterra, tendo, por via dessa experiência, noção dos contornos do debate em torno do cinema do real. Nos últimos anos do Estado Novo, quando começaram a formar-se as cooperativas de autores em torno do Centro Português do Cinema, a maioria assumiu explicitamente o compromisso de defender o cinema como arte. Uma das primeiras cooperativas a manifestar-se nesse sentido foi justamente a integrada por António-Pedro Vasconcelos bem como, entre outros, por António Macedo, Seixas Santos, Paulo Rocha; Henrique Espírito Santo, Fernando Lopes e Fonseca e Costa. Mas uma coisa é estar ciente das armadilhas do documentário. Outra é conseguir evitá-las. E o que aconteceu nos dias seguintes ao colapso do fascismo foi algo de imprevisível a todos os níveis e, também, no plano da linguagem.
ACTO II
Nos grandes centros urbanos, como Lisboa e Porto, gerou-se uma dinâmica social incontrolável. Um caudaloso rio de povo desaguou na rua. O mesmo aconteceu com os profissionais do cinema e do audiovisual. Começaram a filmar furiosamente, a registar tudo, fazendo do povo protagonista e do documentário a ferramenta para interpelar o presente e iluminar o futuro. As Armas e o Povo (1975), assinado pelo Colectivo de Trabalhadores da Actividade Cinematográfica, talvez seja o filme que melhor ilustra esse tempo. Rodado entre o dia 25 de Abril e o 1º de Maio de 1974 com a colaboração de vários realizadores e técnicos portugueses, teve Glauber Rocha, figura cimeira do Cinema Novo Brasileiro, no papel de entrevistador. Dando asas à improvisação, batendo de frente com o real, As Armas e o Povo é um documento de valor histórico incomparável. Está lá o espírito do 25 de Abril. Nesse filme, como em grande parte da produção subsequente, a urgência de mostrar e reportar ou excedeu a preocupação estética ou cruzou-se com ela. A experiência do lugar, a participação militante, haveriam de marcar profundamente os caminhos do documentário português. Adiante surgiriam filmes que me atrevo a qualificar de património comum. Entre eles, Bom Povo Português (1981) de Rui Simões, um cineasta conhecedor da melhor tradição do documentário.

A imagem da Revolução que correu mundo foi a de um soldado com uma criança e
um cravo vermelho no cano da espingarda. Obra de militares, os mesmos que após treze anos de uma guerra colonial cruenta puseram termo a um regime cegamente fechado ao mundo, a Revolução revelou-se exultante, colorida e, dados os antecedentes, singularmente pacífica. Tornou-se evidente o anacronismo de quem fazia a hagiografia da guerra. Alargou-se o fosso existente entre a proclamação oficial da bondade da missão justificada pelo passado mítico, abençoada pela Igreja, e a percepção da vivência dos soldados no dia a dia da frente de combate, sem noção, muitas vezes, do que andavam a fazer. As guerras têm destas coisas. Há quem as mande fazer em nome de uma qualquer transcendência e há quem as faça, no concreto, matando e morrendo. Entre os que as fazem, todos mudam. O combatente passa por uma metamorfose. Pode até vir a ser um assassino por gosto. Ou mergulhar sem regresso na loucura. Mas, aqueles cujos familiares são enviados para a guerra também mudam. Assistem à desagregação do tecido social onde, mesmo em circunstâncias adversas de pobreza, se tinham habituado a labutar e viver em comunidade. Sofrem um abalo emocional como, de forma contida, mostra António-Pedro Vasconcelos em Adeus, até ao meu regresso.
Dos anos 60 até o fim do regime, a RTP emitiu as chamadas mensagens de Natal dirigidas às famílias, na metrópole, como então se dizia, dos combatentes na Guiné, Angola e Moçambique. Alinhados em longas filas, os soldados avançavam para a câmara de filmar e, diante dela, em poucos segundos, identificavam-se, garantiam estar de boa saúde, despedindo-se, de seguida, com um até breve. Tudo a despachar, som síncrono, sem outra edição que não fosse a determinada pela duração das bobines utilizadas pelas máquinas de 16mm. Por vezes, soldados que apareciam nas mensagens de Natal ou já tinham falecido ou encontravam-se feridos ou estropiados.

Nem o Governo, nem as Forças Armadas e, muito menos, a RTP e quem nela mandava, pareciam dar-se conta do efeito contraditório dos programas. Se tinham um conteúdo manifesto, como é óbvio, tinham, também, como deveria ser igualmente óbvio, um conteúdo latente. Numa sociedade asfixiada por práticas censórias, na qual pouco se falava da guerra ou, se falava, era para veicular um ponto de vista estritamente oficial, as mensagens de Natal poderiam trazer algum conforto às famílias dos soldados, mas não deixavam de suscitar legítimas interrogações como se o dado a ver fosse a ponta de um inquietante icebergue de proporções desconhecidas. Com efeito, a cada um daqueles homens que falavam para os seus, mas eram vistos e ouvidos por todos, correspondia o afecto de dezenas, porventura, centenas de pessoas, numa rede de relações espalhada por um território no qual cabiam centenas, porventura, milhares de lugares e aldeias onde silenciosamente pesavam a incerteza, a ausência e o luto.
António-Pedro Vasconcelos foi ao encontro desse país ignorado. Localizou ex-combatentes protagonistas das mensagens de Natal, encontrou-os absorvidos nas actividades do dia a dia procurando readaptar-se à vida civil, falou com eles, certificou-se do quanto a guerra colonial os tinha marcado, a eles e aos seus, e descobriu histórias cujo potencial dramático permitiam trazer à superfície quer a complexidade do presente de então, em 1974, quer da guerra que ceifara a vida de tantos. Escolheu, um pouco ao acaso, segundo diria, aqueles cujas experiências melhor se coadunavam com o seu documentário. Rodado em 16mm, a preto e banco, com uma equipa reduzida, como era e continua a ser habitual, Adeus, até ao meu regresso mostra a guerra colonial praticamente sem iconografia correspondente. Salvo em curtos excertos recuperados dos arquivos, nos quais os soldados, ao dirigirem-se às famílias, aparecem em uniforme de combate, tudo o mais tem de ser imaginado em função dos testemunhos, do modo como a câmara de filmar prescruta a paisagem dos rostos e capta o essencial da atmosfera onde
as personagens do filme se movem. Alberto da Costa Maia, o primeiro interveniente, foi para a Guiné em 1969. Terminada a missão regressou a Portugal. Enquanto esteve em África teve um pequeno problema, palavras suas. O seu pelotão foi alvo de ataque da guerrilha e ele, tomado de pânico, desatou a fugir mato fora. Perdeu-se. Só foi recuperado pelos companheiros de armas no dia seguinte. Tem agora emprego numa unidade de abastecimento da Força Aérea. Não sabe se há-de lamentar ou não a perda das “províncias ultramarinas”, mas diz-se contente pelo fim do sofrimento dos pais que viam os seus filhos partir. Ele não tem pai nem mãe, gostaria de os ter. Espera que o futuro seja melhor para todos.

É esta a introdução, um plano sequência de dez minutos suturado com a exposição rápida dos cartões de uma breve ficha técnica. Alberto é ainda muito jovem, não terá mais de vinte e poucos anos. Parece um adolescente. É dele o close-up inicial feito pelo operador Michel Ognier que há-de manter a câmara ligada para a imagem abrir permitindo o enquadramento do local, a base onde chegam os aviões que vão buscar os soldados às colónias, deslocando-se, depois, em lenta panorâmica em direção ao céu aonde se vislumbra, ao longe, a presença de mais um avião, e voltar a Alberto em grande plano e depois em zoom out a plano médio de modo a que o avião que vai aterrar fique enquadrado. Alberto revela enorme candura. Tem uma gaguez acentuada que o obriga a longas pausas antes de reiniciar a fala intermitente em busca da melhor forma de se exprimir. As pausas são integralmente respeitadas, sem cortes. Hesitante, Alberto dá a sensação de ficar à deriva. Acentua-se a presença do som do avião a fazer-se à pista captado por Jorge Loureiro. O avião aterra. Ouve-se, então, a voz de António-Pedro Vasconcelos a dizer mais ou menos isto. É o dia 14 de Outubro de 1974, uma tarde de domingo, são 16h00, acaba de aterrar o avião que traz de volta os últimos soldados portugueses que combateram na Guiné. Prossegue esclarecendo o seu propósito de fazer, não um ensaio sociológico, mas, tão somente, um retrato “à la minute” sobre quem viveu a guerra e sofreu os seus efeitos dela.
O texto escrito, bem como a leitura, são Nouvelle Vague, anos 60, Paris. O mesmo sucede com a câmara de filmar ao promover o realismo das cenas. E, ainda, na liberdade para improvisar quando falam os protagonistas, dando-lhe tempo e espaço. Como em Perdido por Cem (1973), o texto é lido de forma rápida, à semelhança do que faz Jean-Luc Godard em alguns dos seus filmes. Sendo curto e de mera contextualização, evita, a armadilha do jornalismo televisivo. Há dois elementos cuja importância para a significação são determinantes: o que é dito e a voz que o diz. A voz, ao dizer, pode introduzir uma ordem discursiva extra diegética caso se sobreponha à imagem por alegada necessidade de informação. Ora, quando a semântica do texto escrito prevalece sobre a lógica das imagens, passa a ser ele, texto, a determinar a organização de sentido. Verifica-se, então, um fenómeno de inversão da prioridade dos significantes, de resto, tão presente em documentários clássicos posteriores ao advento do filme sonoro. Essa voice of God tomaria conta do jornalismo de televisão. Em Adeus, até ao meu regresso, nada disso acontece. Voz e texto são coerentes com o estilo do filme. O dispositivo do plano sequência inicial é, aliás, recorrente, reforçando a coerência da narrativa. Imagens de arquivo dão passagem para

O Morto Vivo, a primeira das duas partes do documentário. António José Silva Baptista, o morto vivo, aparece nas mensagens de Natal. A sua história é como segue. Em serviço na Guiné, sai manhã cedo para uma operação militar. A 12km do quartel um ataque dos guerrilheiros faz vários mortos. Alguns corpos ficam carbonizados. António escapa com vida, mas é feito prisioneiro pelo PAIGC. Levado para Conacri perde contacto com os seus. Ao identificarem as vítimas, algumas irreconhecíveis, os camaradas de armas dão António como morto. A família recebe um corpo e faz o seu funeral. A noiva, uma operária fabril, procura começar nova vida. Quando António regressa, após a Revolução, a vida recomeça. Mas já não é a mesma vida, é outra. Tudo mudou. Novas mensagens de Natal introduzem

Os Mortos e Os Vivos, a segunda parte. Os vivos regressados procuram os familiares dos mortos de quem foram amigos. Alguns sofrem de distúrbios mentais causados por sentimentos de culpa. Um escapou a uma missão e o amigo que o substituiu morreu numa emboscada. Os familiares dos mortos nunca superaram as perdas. Entre os vivos, alguns já reintegrados, há opiniões ambivalentes em relação às colónias. Estão satisfeitos com o fim da guerra. Mas, perguntam-se sobre o que por lá andaram a fazer. Uns lamentam o rumo da descolonização posto entenderem que os sacrifícios feitos não foram tidos em conta. É o caso de Fernando Silva, enquadrado em plano médio no local de trabalho, uma pequena fábrica de estofos. Fernando não queria ter perdido as colónias, pelo menos, não daquela maneira. Corte. Grande plano de Marcelo Caetano, material de arquivo. Marcelo fala do sangue derramado, a semente do futuro, da honra dos caídos que não pode ser traída, da integridade do Portugal continental e ultramarino. Corte. Marcelo deposita uma coroa de flores na campa de um soldado. Corte. A réplica vem de outros combatentes como o Chinês, também estofador de móveis, e Fernando Oliveira Amoroso, operário nos estaleiros da Lisnave, palco de algumas das lutas sindicais mais virulentas pós-25 de Abril. A guerra abriu-lhes os olhos, fê-los ganhar consciência política encaminhando-os para a luta de classes anti-capitalista e anti-imperialista. A imagem final, na Lisnave, mostra dois dos antigos combatentes filmados de costas, afastando-se da câmara, porventura, rumo a um futuro tornado intemporal pelo congelamento do plano. Voltarei ao assunto, para terminar, mas não antes de introduzir algumas considerações e uma
deriva sobre cinema e guerra. Respeita esta última à dificuldade, tantas vezes sentida pelo cinema, em encarar questões traumáticas em consequência de constrangimentos de vária ordem. Recupero, a título de exemplo, o que ficou conhecido como a guerra tabu dos italianos. As considerações serão do âmbito da singularidade da Revolução portuguesa, a qual permitiu ultrapassar problemas de representação agudamente sentidos noutros tempos e lugares.
Um dos acontecimentos históricos menos tratados na literatura e no cinema da Itália foi a I Guerra Mundial. Com um saldo trágico de 600 mil mortos, uma legião de estropiados e outra, ainda maior, de soldados desmobilizados sem saber o que fazer da vida, gerou-se um sentimento de humilhação nacional. Para mais, tendo estado do lado dos vencedores, o país não obteve as compensações julgadas devidas, designadamente a anexação dos territórios limítrofes do Império Austro-Húngaro. Mussolini soube explorar o descontentamento, terreno fértil para a ascensão do fascismo. Também ele estivera nas trincheiras onde ganhara, ou forjara, a aura do combatente inspirador, modelo de masculinidade que os jovens da nação deviam seguir. Ferido em combate, foi condecorado pelo rei com pompa e circunstância. Desmobilizado, voltou ao jornalismo e tratou de fomentar o caos. Fez dos Fasci Italiani di Combattimento, criado, em Mião, a 23 de Março de 1919, o seu braço armado. Dois anos mais tarde fundou o Partido Nacional Fascista.
O Duce prestou especial atenção ao cinema. Percebendo a sua importância ao serviço da propaganda, criou, com a colaboração do filho, Vittorio Mussolini, um cinéfilo, a Cinecittá e o Festival de Veneza. Investiu fortemente em jornais de actualidades cinematográficas o que, aliás, seria copiado no Portugal de Salazar. Segundo a investigadora Carlota Ruiz, a guerra, tal como é tratada em diversos filmes italianos então produzidos, nunca existiu. Passava-se em contextos totalmente deslocados da realidade. Surgia como uma atividade sagrada, intemporal, e os soldados eram retratados como mártires a viver a espiritualidade de uma causa patriótica. Heróis, diga-se, criados pelo próprio cinema, subliminar ou explicitamente associados a Mussolini. Exemplo desse imaginário é Maciste, criado para um peplum de Giovanni Pastrone com argumento do excêntrico poeta Gabriele D’Annunzio. Entre 1915 e 1927, foram feitos 26 filmes de Maciste, todos interpretados por Bartolomeo Pagane. Posteriormente, o herói continuou a ser declinado em múltiplos desdobramentos surgindo, até, em tempos históricos espaçados de séculos.
Como se sabe, uma das funções do mito é a ocultação. Na Itália, serviu para esconder o trauma coletivo dos italianos em relação à I Guerra Mundial, considerada um suicídio de massas. Centenas de milhares de pessoas, mal armadas e mal preparadas, tinham sido enviadas para um massacre. Regra geral, eram pobres. E para quê? Os diversos poderes subsequentes nunca quiseram acertar contas com esse passado, prevalecendo um insanável sentimento de culpa transversal a toda a sociedade. Imobilizando-a. A situação não deixa de ser peculiar, tanto mais que os efeitos da II Guerra Mundial foram escalpelizados sem condescendência pela literatura e pelo cinema do neo-realismo italiano. Terá a diferença de tratamento resultado de a Itália ter sido uma vencedora humilhada na primeira guerra e uma derrotada sem glória na segunda? Talvez. A verdade é que foi preciso esperar 30 anos por um filme que metesse mãos à obra. A história não acaba aqui.
Mal houve conhecimento da intenção de realizar esse filme sempre adiado, gerou-se amplo movimento de protesto. Procurou alterar-se o argumento. Falharam financiamentos. Obstaculizou-se a rodagem. Por fim, contra ventos e marés, surgiu A Grande Guerra (1959) uma comédia amarga de Mario Monicelli, com dois dos mais populares actores italianos da altura, Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Elogiado por uns, trucidado por outros, em partes iguais, o filme acabaria por receber o Leão de Ouro, em Veneza, ex-aequo com General Della Rovere (1959) de Roberto Rosselini.

ACTO III
O exemplo da guerra tabu dos italianos contrasta de forma absoluta com o facto de, apenas meia dúzia de meses após o dia inicial de Abril, ser exibido um documentário sobre
a guerra colonial portuguesa, também ela profundamente traumática. Milhões de pessoas assistiram pela televisão a algo de impensável, nos antípodas das mensagens do Natal dos anos anteriores. Certamente, o caudal vertiginoso da produção cinematográfica da época terá contribuído para Tal. Só a cooperativa Cinequanon fez mais de 50 filmes. Todavia, não pode ignorar-se que os militares da Revolução foram os mesmos que durante 13 anos combateram na guerra colonial. Fizeram a Revolução para acabar com ela sabendo não haver outra solução que não fosse uma solução política. Foi uma luta titânica. A guerra era um epifenónemo. Em torno dela, o Estado Novo criara uma retórica intransigente. Considerando-se legitimado para levar a cabo uma ação civilizadora em África, exibia a sua galeria de heróis míticos, ostensivamente. Na zona mais importante de Lourenço Marques, por exemplo, erguia-se uma monumental estátua equestre de Mouzinho de Albuquerque, um militar tido como pacificador de Moçambique e glorificado no cinema por Jorge Brum do Canto em Chaimite (1953). Parafraseando António Lopes Ribeiro havia um feitiço do Império. De uma maneira ou de outra, dificilmente se lhe escapava, justamente, por causa do lastro cultural.

Extraordinário foi esse peso histórico, bem como a dolorosa experiência dos combatentes, não ter impedido que se falasse da guerra abertamente, ou quase. Porquê? Por uma razão simples. À época, a relação de forças era francamente favorável aos sectores progressistas dentro das Forças Armadas. E as Forças Armadas tinham uma aliança com o povo que nelas maioritariamente confiava. Há uma outra razão não negligenciável. As tecnologias do cinema, bem como da comunicação, de um modo geral, já permitiam uma mobilidade, flexibilidade e velocidade de circulação incomparavelmente superiores às existentes na primeira metade do século passado, por exemplo, no tempo da guerra tabu italiana. Acrescentaria, ainda, sob reserva, a necessidade de exorcizar fantasmas, de justificar a razão pela qual os militares tinham escolhido o caminho da paz. Também por essa razão, em Adeus, até ao meu regresso, de certa maneira, fica

o mundo virado do avesso ou, se quisermos, o ocaso de uma determinada ordem dá lugar à madrugada de uma ordem nova. Um filme pode ser lido de muitas maneiras. Ao longo dos anos, nós mudamos e os filmes mudam connosco. Mencionado nos Cahiers de Cinéma como sendo de referência no âmbito do documentarismo português, vejo assim, hoje, o filme de António-Pedro Vasconcelos. O plano-sequência inicial é fulgurante. Transita da denotação para a conotação. Alberto da Costa Maia, o gago, com o seu esforço para falar, sugere a Revolução a dar os primeiros passos, tacteando, à procura do melhor caminho. Está num lugar de partidas e chegadas, o céu como limite. Há nele, no entanto, as mesmas dúvidas e incógnitas das demais personagens que viram o seu mundo dar uma volta por causa da guerra colonial. Esse mundo, escondido pelo véu de enganos do Estado Novo, é revelado. Há vivos e mortos. Memórias inquietas, histórias implausíveis, momentos de superação e catarse. Para as contar, o cineasta organizou a narrativa em três actos ou não tivesse sido ele a proclamar a ficção como sua principal preocupação. Apresentadas as personagens, deixa-as ganhar densidade dramática. Encena situações. As imagens de arquivo das mensagens de Natal são pontos de viragem. No excerto do discurso de Marcelo Caetano condensa a evidência da necessidade de derrubar o regime. No final, a solução encontrada prende-se com a consciência de classe. Nada a opor. Mas talvez seja essa a maior debilidade de Adeus, até ao meu regresso porque aí resvala para uma retórica ideológica previsível, um tanto ao arrepio do tanto dado para surpreender. Tem uma atenuante. Nesse tempo, o que é que não era ideológico? Um ponto mais. Apesar de feito para a televisão, evita as suas habituais armadilhas.

Ainda na primeira fase do seu percurso, António-Pedro Vasconcelos fez um último documentário intitulado Emigrantes… E depois (1976). Voltaria a esse registo com A Conspiração (2023), um seriado documental para televisão sobre as engrenagens do movimento dos Capitães de Abril que seria concluído por colaboradores após o seu falecimento. Por sinal, é um excelente seriado.
Porto, 25 de Julho de 2024
P.S. Este texto foi originalmente publicado na revista online Cinema(s) da Associação Ao Norte.