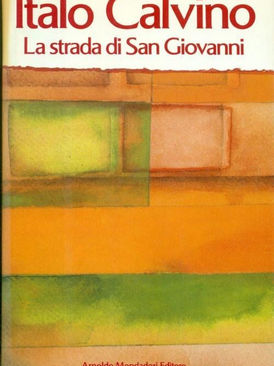- Jorge Campos
- 25 de set. de 2020
- 25 min de leitura
Atualizado: 22 de out. de 2023
“Les théories de la non-fiction au cinéma sont fort diverses, car chaque théorie do documentaire porte la marque du moment historique spécifique auquel elle a été créée”.
William Guynn

O significado atribuído à palavra newsreels – um alinhamento de pequenos filmes numa determinada ordem à semelhança do que acontece com as peças de um telejornal – tem origem nos jornais filmados criados por Charles Pathé em 1908. Apesar do frequente descuido formal e da tendência para o faits divers, os primeiros jornais cinematográficos, a par dos filmes factuais, influenciaram o desenvolvimento do cinema e, em particular, do filme documentário mais do que por vezes se pensa. Este texto pretende apontar algumas pistas nesse sentido centrando a atenção nos primórdios daquilo que terão sido indícios da reportagem jornalística e do cinema do real. Tem como ponto de partida as primeiras imagens em movimento, bem como formas arcaicas de jornalismo, e como ponto de chegada as primeiras tentativas de emancipação de marcas autorais. Não sai do período anterior ao advento do som embora contemple saltos temporais. Procede como um mosaico. Como um sumário. Não tira conclusões. E começa com uma citação de Wim Wenders:
“Mesmo no começo – e dele muito me restou – para mim, fazer filmes era: colocar a câmara algures e dirigi-la para alguma coisa muito concreta e depois não fazer mais nada, deixá-la apenas correr. E os filmes que mais me impressionavam eram também os dos realizadores muito, muito antigos, da viragem do século, que gravavam apenas e se admiravam que houvesse algo no material. Estavam, muito simplesmente, fascinados pelo facto de poder fazer-se uma imagem de alguma coisa em movimento e de poder revê-la. Um comboio entra na estação, uma mulher de chapéu recua um passo, há fumo, depois o comboio pára. Os pioneiros do cinema filmavam, à manivela, alguma coisa como isto, examinando-a no dia seguinte muito orgulhosos do seu feito. É mais o olhar do que o transformar, ou mover ou encenar o que me fascina na realização (Wenders, 1990, p. 13)”.
Filmes factuais, o primeiro olhar
A figura do “caçador de imagens” é uma presença constante no imaginário dos documentaristas. No início, o acto de filmar mais não era do que animar o instante fixado na imobilidade da fotografia. Mas, a reprodução do movimento, só por si, depressa deixou de ser uma prioridade. Quando os irmãos Lumiére mandaram os seus operadores Mesguich e Promio filmar os quatro cantos do mundo aperceberam-se de que o interesse do público não residia no real, mas na imagem desse real dada a ver pelo olho da câmara. Vinte anos mais tarde falar-se-ia de fotogenia, essa alquimia emocionante que permite reverter em espectáculo o que não é espectacular, como sejam operários saindo de uma fábrica ou chegadas e partidas de comboios. Em L’Arrivée d’ un Train en Gare (1895), filmada em La Ciotat, no sul de França, uma câmara de Louis Lumiére captou a aproximação de um comboio a ponto dos espectadores se assustarem perante a ameaça da locomotiva aparentemente incapaz de se deter. Ao desembarcarem, passando diante da câmara de filmar, os passageiros pareciam confundir-se com o público numa prodigiosa sensação de proximidade e profundidade tão diferente da experiência proporcionada nas salas de teatro. O cinematógrafo, seis meses depois da estreia em Paris, estava em Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha, Áustria, Hungria, Suiça, Espanha, Itália, Sérvia, Rússia, Suécia e Estados Unidos. E, sim, em Portugal. Um pouco mais tarde, na Argélia, Tunísia, Egipto, Turquia, Índia, Austrália, Indochina e Japão.

No final de 1897, com mais de uma centena de “caçadores de imagens” espalhados pelo mundo, os irmãos Lumière surpreendiam milhões de espectadores com os filmes documentais, então chamados panoramas ou vistas. Pela mesma altura, primeiro Méliès e depois Porter enveredaram por outro tipo de abordagem. Surgiram as primeiras estórias, nas quais, ao contrário do que acontecia nos panoramas, uma incipiente ligação de imagens deixava antever o embrião de uma gramática do cinema. Méliès foi mais longe. Fez filmes factuais encenados. É consensual que até 1908 a produção de actualidades predominou, sendo embora evidente o desfasamento temporal, designadamente em França e nos Estados Unidos onde a produção industrial de filmes de enredo principiou um pouco mais cedo.
As fitas documentais dos primeiros anos do cinema, supostamente retratos do quotidiano, depressa perderam a inocência primitiva. Rapidamente se estabeleceu uma espécie de comércio entre os poderosos do mundo e os caçadores de imagens, com os primeiros dispostos a pagar a visibilidade que os segundos lhes pudessem proporcionar em troca de facilidades de protecção e de acesso a determinados locais e acontecimentos. Assim nasceu uma vasta filmografia na qual se reconhecem indícios de propaganda, à qual, de resto, o jornalismo e o filme documentário viriam a estar amiúde associados. Por exemplo, nos arquivos de cinema da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos há um avultado volume de takes do presidente Theodore Roosevelt reunidos por ele próprio para efeito de promoção pessoal. Outro exemplo, os países grandes produtores de filmes documentais eram o centro de impérios coloniais propensos a darem a conhecer os nativos das suas colónias como seres pitorescos e agradecidos aos senhores tutelares.
Também a fraude e a impostura são quase tão antigas quanto os primeiros filmes. Companhias como a Vitagraph e a Biograph não hesitavam em utilizar uma trucagem que ao público do início do século ou terá passado despercebida ou não terá merecido grandes reparos. Segundo Erik Barnouw, a impostura era justificada pela competição entre os produtores. Diz Barnouw:
“As reconstituições e imposturas alcançaram um impressionante registo de ‘êxitos’. Se há memoráveis imagens genuínas do terramoto de 1906 de San Francisco, outras alegadamente respeitantes a esse acontecimento, foram forjadas a partir da manipulação de miniaturas e foram igualmente muito apreciadas. Diversas erupções vulcânicas foram igualmente forjadas com êxito, como A Erupção do Monte Vesúvio, em 1905, uma fita da Biograph. As companhias não queriam passar ao lado de catástrofes e outros acontecimentos relevantes só porque os seus operadores não se encontravam no local. O espírito de empresa não o permitia. Respondendo a esse espírito o produtor britânico James Williamson filmou em 1898 o Ataque a um posto missionário na China no pátio de sua casa e algumas cenas da sua Guerra dos Boers num campo de golfe. As neves de Long Island e de New Jersey ofereciam as condições adequadas para empreendimentos como A Batalha de Yalu, filme da Biograph de 1904 e para um outro de Edison chamado Escaramuça entre as forças avançadas russas e japonesas. Neste último viam-se soldados a passar diante de uma câmara imóvel, enquanto outros iam caindo. Para ajudar o público a identificar as forças em presença, os russos estavam vestidos com uniformes brancos e os japoneses com uniformes de cores escuras”. (Barnouw, pp. 28-29)
Portugal não conheceu este grau de sofisticação, digamos assim, em matéria de manipulação de imagens. De qualquer modo, os primeiros tempos foram em tudo semelhantes. Contemporâneo de Louis e Auguste Lumière, Paz dos Reis mostrou a Saída do Pessoal Operário da Camisaria Confiança a 12 de Dezembro de 1896 numa sessão no Palácio do Príncipe Real, no Porto, da qual constavam igualmente outros filmes por ele manivelados. O Jornal de Notícias desse dia anunciava a exibição de “12 perfeitíssimos quadros, sete nacionais e cinco estrangeiros.” (Ribeiro, 1983, p. 13). Os quadros portugueses, além do já mencionado, eram O Jogo do Pau, Chegada de um Comboio Americano a Cadouços, O Zé Pereira nas Romarias do Minho, A Feira de São Bento, A Rua do Ouro e Marinha. Exibidos durante o intervalo de uma zarzuela, muito do agrado do público da época, tiveram maior êxito do que o até então obtido pelas vistas estrangeiras.
Este tipo de filmes seria a imagem quase exclusiva do cinema português do final do século XIX e do início do século XX. Paz dos Reis, cujos trabalhos estão quase todos perdidos ou destruídos, terá sido, portanto, não só o nosso primeiro cineasta, mas também o nosso primeiro repórter de imagens em movimento sem que disso, em função do contexto da época, tenha tido consciência. Se o facto de ser pioneiro o deu a conhecer, a verdade é que a maioria dos seus pares permaneceu no anonimato. Poucos alcançaram a notoriedade. Entre estes contam-se Manuel Maria da Costa Veiga e João Freire Correia. Ambos fizeram numerosos filmes. Considerado um dos melhores fotógrafos de Lisboa e fundador da Portugália Filme, Freire Cooreia, antigo operador de Aurélio Paz dos Reis, tem o seu nome associado a dois grandes êxitos junto do público, A Cavalaria Portuguesa e O Terramoto de Benavente, um e outro referenciados como precursores do documentário português. O Terramoto de Benavente (1909) tirou 22 cópias só para exibição no estrangeiro, um feito considerável para a época. Em 1910, Costa Veiga e Freire Correia filmaram a Revolução de 5 de Outubro e a proclamação da República.

Newsreels
Com a invenção da montagem ainda na primeira década do século XX – uma designação arriscada face ao significado que hoje se lhe atribui – o cinema conheceu uma mudança radical. As imagens factuais, que tinham dominado os primeiros anos do cinema, perderam terreno para as os filmes de enredo que em breve iriam fazer a glória dos theatres na Europa e dos nickleodeons nos Estados Unidos. Em todo o caso, se os interesses comerciais se concentraram no filme de enredo, nem por isso prescindiram de investir no campo informativo. Houve até uma especialização. E um grupo indiscriminado de operadores itinerantes, repórteres por vocação, caçadores, cientistas e exploradores, devido a uma multiplicidade de interesses, continuaram a desenvolver os seus trabalhos na tradição das imagens factuais.
Entre esses interesses avultava o científico, bem como um de índole jornalística em busca de critérios autónomos. Em qualquer dos casos, pôde manifestar-se uma maior vitalidade quanto à abordagem formal de aspectos do quotidiano. Ganharam relevância marcas semânticas de transição. Do simples registo evoluiu-se para formas de expressão mais pessoais em função dos interesses dos intervenientes, tratassem eles de acontecimentos da actualidade, grandes viagens, expedições ou da vida animal. E, sobretudo, passou a ser evidente um maior envolvimento social. Tudo isto anunciava, por um lado, o aparecimento de um tipo de jornalismo cinematográfico, inspirado nos magazines da imprensa, feito, por vezes, com maior cuidado e, por outro, de narrativas sobre o real com recurso a dispositivos do chamado cinema de ficção.
Essa evolução, porém, foi lenta e contraditória. No cinema informativo as falsificações continuaram na ordem do dia, apesar de gradualmente substituídas por reconstruções. Estas, porém, já não visavam enganar o público e quase sempre eram anunciadas como tal. Tinha chegado o tempo dos jornais cinematográficos. Até então o cinema factual tinha sido encarado como uma janela aberta para o mundo e a sua credibilidade resultava de se acreditar no que se via. Com a chegada dos jornais cinematográficos houve, em muitos aspectos, um salto qualitativo, por vezes, carregado de utopia. Charles Pathé, o seu criador, via o cinema como o jornal, a escola e o teatro do futuro. Contudo, de um modo geral, dominou a negligência formal justificada pelo imediatismo, bem como a frivolidade das matérias por alegada necessidade de uma informação popular. Isto apesar da excelência de muitos operadores de câmara, cuja temeridade em busca de imagens espectaculares não conhecia limites. Alguns não hesitaram, por exemplo, em arriscar a vida para filmar acrobacias aéreas, tão do agrado do público da época, literalmente amarrados à fuselagem dos aviões de modo a conseguirem as melhores tomadas de vista. O mito desses “gloriosos malucos”, bem como o fascínio por uma profissão capaz de gerar notoriedade está, aliás, exemplarmente tipificado em The Cameraman (1928) de Edward Sedgwick e Buster Keaton.
Os jornais cinematográficos eram exibidos nas salas semanal ou quinzenalmente. Os primeiros, da Pathé, são de 1808. Fazem a cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres. O sucesso é imediato. Para mais, na prova da maratona, o campeão italiano entra à frente no estádio, mas o seu comportamento é estranho. Cambaleia e acaba por cortar a meta com a ajuda de terceiros, amparado. Cansaço? Sim, mas também o primeiro caso de dopping registado pelas câmaras de filmar. O atleta tinha ingerido estricnina para aumentar a resistência. Dada a visibilidade alcançada, os Jogos Olímpicos nunca mais voltariam a ser os mesmos.
Ao contrário das expectativas do pai fundador, de início evitam-se os assuntos mais sérios, considerados exclusivos dos jornais impressos. Só lenta e gradualmente aparecem as grandes questões. Num jornal da Gaumont de 1910 é possível ver imagens de Lisboa respeitantes à proclamação da República em Portugal. São, presumivelmente, de Costa Veiga e Freire Correia. A mesma companhia, em 1912, faz uma reportagem sobre a perseguição e captura do anarquista Jules Bonnot, em França. A novidade é a presença de uma estrutura dramática. Através do seriado documental de Serge Viallet – La Grande Aventure de la Presse Filmé – ficamos a saber que Bonnot afirmara: “Sou célebre. A sociedade não me compreende. Tanto pior para ela.”
O que se vê é o seguinte. Quando Bonnot é cercado, a polícia dá início a uma série de tentativas no sentido de colocar uma carga de explosivos que o fizesse sair e aos seus cúmplices do local onde se refugiara. Todas essas tentativas são acompanhadas pelos operadores da Gaumont. Finalmente, a operação é bem sucedida. A multidão, que se encontrava à distância, precipita-se para o local movida pela curiosidade de ver de perto, talvez morto, aquele que era considerado o bandido mais famoso do seu tempo.
Noutros casos, como a guerra nos Balcãs, as companhias de newsreels vão atrás dos destaques dos jornais, os quais contam com colaboradores como Leon Trotsky e Winston Churchill.

Pela mesma altura, em 1912, a Hearst, a Universal, a Paramount, a Mutual e a Fox já estão em competição com a Pathé e a Gaumont. Na antecâmara da I Guerra Mundial, apesar da maior parte do material filmado ser institucional, a importância do cinema informativo é um dado adquirido. A Pathé e a Gaumont dominam o mercado mundial e, na Europa, os seus filmes representam, em conjunto, 90 por cento do material exibido nas salas. Quando a I Guerra Mundial principia a hegemonia da Pathé é tal que as imagens da mobilização dos soldados alemães, bem como os seus preparativos para a guerra, são de operadores franceses. A situação não dura mais de quinze dias, visto que os alemães se apercebem dos riscos da situação. Por seu turno, as autoridades francesas impõem restrições à mobilidade dos operadores na frente de combate, de modo a evitar que o inimigo pudesse extrair conclusões do ponto de vista militar a partir dos filmes produzidos. Seguem-se novas restrições. A Pathé, a Gaumont e demais companhias são autorizados a filmar apenas na rectaguarda e na condição de darem uma imagem positiva da organização e do estado de ânimo das tropas.
Em França, em 1916, o exército cria o seu próprio serviço cinematográfico, uma medida também adoptada por outros países, designadamente Portugal. Quando os americanos desembarcam na Europa, trazendo consigo os seus próprios operadores, não conseguem fazer muito melhor. De restrição em restrição, apesar da abundância de materiais, o que fica da I Guerra Mundial são essencialmente imagens institucionais.
Ainda em 1916, o líder revolucionário mexicano Pancho Vila vende os direitos de imagem à Mutual. Só esta companhia fica autorizada a filmá-lo. Pancho Vila chegou a levar a cabo acções de combate à luz do dia para que os operadores de câmara pudessem dispor das melhores condições de trabalho. Infelizmente, as imagens da Mutual desapareceram. Restam as dos seus concorrentes que se limitaram a seguir os preparativos do exército americano para pôr cobro à rebelião. Mas, estes episódios não são apenas ilustrativos da eficácia retórica das imagens. Reflectem também uma concorrência feroz. E, uma vez mais, o poder da propaganda.
Em Portugal, destaca-se nesta fase a Invicta Film, com estúdios no Porto, à qual se associa o primeiro grande ciclo do cinema português. A Invicta tornou-se conhecida pelos filmes de enredo. Mas entre 1910 e 1925 produziu mais de uma centena de filmes factuais. Logo em 1910, um dos seus proprietários, Nunes de Matos, começou a produzir reportagens cinematográficas, sobretudo no Norte, fazendo simultaneamente pequenos filmes publicitários de encomenda. Rodou milhares de metros cujos princípios orientadores eram a fidelidade à temática portuguesa conseguindo assim não apenas agradar a um público cada vez mais vasto, mas também interessar a Pathé e a Gaumont, para as quais enviava colaboração regular. O Naufrágio do Veronese, uma reportagem de 300 metros de um navio italiano afundado ao largo de Leixões em 10 de Fevereiro de 1913 vendeu, só para a Europa, mais de uma centena de cópias. A Invicta não fez jornais. Mas houve quem falasse em documentarismo. Foi o caso, entre outros, de Bénard da Costa para quem “quase tudo o que de mais interessante se fez foi no capítulo do documentarismo, produzido pela Companhia Cinematográfica de Portugal ou pela Invicta Film de Alfredo Nunes de Matos, exibidor portuense (Bénard da Costa, 1982, p. 20)”.
Registe-se ainda que se 1917 é o ano em que a Invicta cresce, passando a investir em filmes de enredo a ponto de se transformar num estúdio europeu moderno, é também o ano da primeira conferência sobre cinema realizada em Portugal. O conferencista é António Ferro, mais tarde o homem forte de Salazar para a cultura e propaganda.
No final da I Guerra Mundial, embora conscientes da possibilidade de tratar assuntos sérios com o intuito de influenciar a opinião pública, os jornais informativos optaram maioritariamente por uma agenda que ia ao encontro do escapismo. A produção cinematográfica europeia caíra a pique. Charles Pathé, aliás, de forma inteligente e proveitosa, desfez-se do seu poderoso império. Os estúdios americanos impuseram a sua hegemonia. Muitos técnicos europeus, perante o cenário desolador de uma indústria praticamente destruída, emigraram para os Estados Unidos. De regresso a casa, operadores e realizadores americanos de newsreels foram engrossar o número daqueles que trabalhavam não em jornalismo, mas em Hollywood. Entre europeus e americanos nessas condições, Raymond Fielding apresenta uma lista na qual se incluem nomes tão destacados quanto os de Joseph von Sternberg, Hal Mohr, Victor Fleming, Ernest Schoedsack, Farciot Edouart, Ira Morgan, Fred Archer, Harry Thorpe, George Hill e Eddie Snyder. Hollywood passara a ser o grande centro da produção mundial de cinema. Era lá que estavam Griffith, Chaplin e tantos outros. Chegara o tempo das grandes estrelas.
A atenção dos estúdios, ainda que continuassem a fazer newsreels, concentrava-se nos imperativos do star system. As actualidades optaram por adoptar definitivamente os modelos e as rotinas produtivas da imprensa. No pós-guerra, segundo Fielding, a hegemonia de jornalistas sem conhecimento de cinema, a par da influência tablóide exercida já nessa altura pela companhia de Hearst, terão sido responsáveis pela frivolidade instalada em formatos rotineiros que prevaleceram até ao aparecimento de March of Time nos anos 30.
Primeiras marcas de enunciação: reportagem e filme documentário
Durante muito tempo considerou-se que a produção de newsreels, ao invés de potenciar a criatividade dos operadores, se revelou falha de imaginação, conformista em relação aos assuntos tratados e incapaz de proporcionar uma visão integradora à escala humana. Mas, hoje, se esse ponto de vista continua a ser dominante, faz-se igualmente uma reavaliação. Porquê? Por várias razões, designadamente a possibilidade de estabelecer um diálogo com as imagens descobrindo nelas um olhar. Elas dizem-nos coisas para além do que representam porque sendo denotativas são igualmente conotativas. São polissémicas, mesmo nesse filmes factuais aos quais os franceses chamavam genericamente documentaire. Esse potencial semântico é já evidente a partir do início da segunda década do século XX, sobretudo por via dos travelogue, filmes de viagens eventualmente associados a aventuras e a proezas de exploradores em paragens remotas. Os franceses produziram numerosos filmes deste tipo no deserto do Sara, nos quais se percepcionam intuitos narrativos. Herbert G. Ponting filmou a trágica expedição do capitão Scott ao Pólo Sul que, em 1912, a Gaumont mostrou ao mundo com enorme êxito. Um pouco mais tarde, em 1914, coube a Frank Hurley filmar a aventura da expedição de Ernest Shackleton ao Antárctico. No ano seguinte, antecipando Nannok of the North (1922) de Robert Flaherty, Edward S. Curtis fez o documentário antropológico seminal com In the Land of the War Canoes. Há em tudo isto um denominador comum? Sim. A fotogenia. E o primeiro momento da fotogenia reside no instante em que a vida é transposta para o celulóide através da mediação do olhar.
Nesta medida, o olhar dos caçadores de imagens é já linguagem, visto ser esse o primeiro momento de qualquer processo narrativo. Os irmãos Lumière tiveram, aliás, uma intuição genial quando perceberam que, independentemente do desconhecido e do pitoresco, o público partia fundamentalmente à procura da narrativa do quotidiano. De um modo peculiar, é certo. Nada até então solicitara os mecanismos da percepção do modo como o cinematógrafo o fazia. A câmara não se deslocava, mas os objectos e as pessoas sim, sugerindo uma espécie de montagem dentro do quadro, ou seja, sinais de linguagem igualmente presentes na composição, na luz, na profundidade de campo.
Sinais, e apenas sinais, é também o que acontece quando se fala de reportagem aludindo aos primeiros tempos do cinema. A reportagem é um género jornalístico. No princípio do século XX, porém, o jornalismo circunscrevia-se à imprensa. Portanto, e porque os paradigmas eram os da imprensa e só a ela se reconheciam vocação e identidade jornalísticas, nem os primeiros “caçadores de imagens” podiam reclamar o estatuto de repórteres, nem os seus trabalhos, em rigor, eram reportagens. Quando muito, do mesmo modo que as primeiras fitas dos Lumière indiciavam um modo de expressão, assim também as primeiras reportagens cinematográficas só podem ser reconhecidas em termos de indícios de jornalismo visual. A colagem da palavra reportagem aos primeiros filmes é, portanto, algo que ocorre a posteriori e, muitas vezes, parece decorrer da posição ideológica de pensar o cinema documental por oposição a outros territórios, reavivando, de algum modo, os contornos de outras querelas, como aquela que opõe literatura e jornalismo.
Em todo o caso, numa perspectiva diacrónica, alegando critérios de historicidade e atendendo às categorias integradoras dos géneros jornalísticos, aceita-se que os trabalhos de Paz dos Reis, Costa Veiga, Freire Correia, dos operadores dos Lumière – e de tantos outros – têm, de facto, pontos de contacto com a reportagem jornalística. Repórter vem da palavra inglesa report, a qual significa o acto de informar, relatar, referir, contar, dar parte, manifestar. Ora, estes pioneiros davam conta de acontecimentos e, nessa medida, estavam próximos da reportagem. Mas, por razões idênticas, estavam igualmente próximos do documentário e da generalidade dos géneros cinematográficos, como se demonstra, hoje, por exemplo, através do catálogo dos filmes Lumière comentado por Bertrand Tavernier em The Lumière Brothers First Films (1996). Portanto, quer o filme de enredo quer o filme documentário partem de um tronco comum, no qual cabe igualmente a reportagem.
Fica, portanto, evidente que o desenvolvimento do cinema informativo é acompanhado de uma outra tendência que leva ao filme documentário. De um modo geral, as vias para lá chegar correspondem ao enunciado de Paul Rotha na primeira tentativa conhecida de organizar uma espécie de árvore genealógica do cinema documental. Em Documentary Film, cuja primeira edição é de 1935, mas que viria a ter sucessivas reedições, Rotha sustenta a existência de quatro tendências – na verdade, Rotha utiliza a palavra tradição em vez de tendência – em torno das quais se foi construindo a identidade do documentário.

Raízes do documentário e separação das águas segundo Paul Rotha
A primeira é a tradição naturalista ou romântica, associada aos travelogue, e surge com os filmes de Robert Flaherty, os quais são, muitas vezes, associados aos grandes avanços da antropologia. De facto, Flaherty foi contemporâneo de James Frazer, pioneiro dos estudos antropológicos no âmbito das ciências sociais, e de Franz Boas, um defensor do reconhecimento e preservação de culturas em vias de extinção, para o que considerava indispensável o levantamento do máximo de informação através de técnicas de trabalho de campo. Não sendo antropólogo, Flaherty utilizava um método de trabalho semelhante. Nanook of the North (1922), sobre a vida dos esquimós e Moana (1926), que reconstitui aspectos da vida de povos dos mares do sul, são da mesma época de obras fundamentais de Malinowsky e de Margaret Mead, respectivamente, Argonauts of the Western Pacific (1922), sobre as tribos da Nova Guiné e Come of Age in Samoa (1928), sobre os povos dessa região. Com Flaherty há um método de aproximação ao real que exige a reconstrução e repetição sistemática de cenas até se atingir o momento da verdade, a qual, em última instância, é sempre a verdade do autor. É essa busca – ou exploração – das raízes profundas das coisas que legitima a encenação, como acontece, por exemplo, em Nanook.
Mas na linha dos travelogue também se incluem os filmes de operadores – jornalistas como Merian C. Cooper e Ernest Schoedsack que fizeram Grass, em 1925, e, dois anos mais tarde, Chang. O primeiro faz a reportagem da migração anual de dezenas de milhar de elementos das tribos Bakhtiari em busca de prados para os seus rebanhos. O segundo dramatiza a luta interminável contra a selva e os animais que a habitam de uma família que procura criar condições de vida no Sião. Ambos se afastam dos filmes de newsreels pela dramatização da narrativa através de procedimentos próximos do chamado cinema de ficção.
Simultaneamente, na Europa, sob a influência de vanguardas artísticas como o futurismo, o surrealismo e o construtivismo, alguns cineastas europeus investiam num experimentalismo cujos antecedentes podem ser identificados em Mannahatta, o filme americano de um fotógrafo, Paul Strand e de um pintor, Charles Sheeler, realizado em 1921. Mannahatta toma o nome de um poema de Walt Whitman e ao invés de reportar sobre Nova Iorque, os seus lugares e habitantes, opta por desvalorizar deliberadamente as imagens factuais para se concentrar na elaboração de um retrato da cidade baseado numa composição abstracta resultante da exploração das virtualidades plásticas da imagem cinematográfica. Entre os filmes europeus influenciados pelas vanguardas artísticas, estão as chamadas sinfonias das cidades como Rien que les Heures (1926) de Alberto Cavalcanti, Berlim (1927) de Walter Ruttman, A Ponte (1928) e Chuva (1927) de Joris Ivens, O Homem da Câmara de Filmar (1929) de Dziga Vertov e Douro, Faina Fluvial (1931), de Manoel de Oliveira. Estes cineastas prescindem de se aventurar em lugares longínquos, na tradição dos travelogues, bem como de abordagens de âmbito mais sociológico ou antropológico, para fazerem incidir a sua atenção na reconstrução do real através de uma abordagem que privilegia a orquestração rítmica e sinfónica de imagens do quotidiano.
Rotha desvaloriza, no entanto, esta tradição à qual chamou realista ou continental – visto que se desenvolveu na Europa e não nas ilhas britânicas – afirmando que se estes filmes remetem para o quotidiano, o facto é que, na sua maioria, são exemplos claros de arte pela arte e, portanto, exercícios formais sem relevância social (Rotha, 1970, p. 86). Hoje, este ponto de vista do documentarista britânico não faz qualquer sentido e é facilmente explicado pelo contexto de propaganda dos anos 30 do século passado, bem como pela influência do cinema soviético da década anterior.
A terceira tradição é aquela que mais se aproxima do objecto deste texto. Está associada aos cine-jornais, os quais, sendo uma consequência da extraordinária difusão do jornalismo no século XX, já eram regularmente exibidos, com se viu, desde 1908. Nesta linha também cabem os documentaire e travelogue. Mas, é a partir do trabalho de Dziga Vertov e do seu Kino - Pravda (literalmente, Cinema - Verdade), no princípio dos anos 20, que melhor podem identificar-se vias de compromisso com o desenvolvimento do filme documentário. Em três anos o cine-jornal de Vertov teve 23 edições, a primeira das quais ocorreu em 1922, praticamente em simultâneo com a estreia de Nanook of the North. Habitualmente, cada número tinha a duração de 20 minutos e tratava de três tópicos relacionados com o dia a dia da sociedade soviética. De um modo geral, a equipa do Kino-Pravda rejeitava a encenação, embora tal pudesse ocorrer excepcionalmente.
De início, o grupo de Vertov rejeitava o que considerava serem as concepções burguesas do belo, pelo que as imagens deviam ser simples e funcionais dando corpo a um texto cinematográfico descritivo e não narrativo. Porém, o Kino-Pravda foi assumindo um experimentalismo crescente, o qual, a partir da edição do seu número 14, viria a enfrentar resistência não só da parte dos correligionários de Vertov, mas também daqueles a quem mais especialmente se dirigia – os operários e o povo – que tinham dificuldade em entendê-lo. Isto porque a dada altura o material fílmico passou a ser visto como algo susceptível de sucessivas combinações e recombinações na linha dos pressupostos formalistas os quais valorizando a montagem, prescreviam normas de intervenção sustentadas por juízos morais decorrentes de opções políticas e ideológicas.

A cineasta Esfir Schub, contemporânea dos grandes cineastas soviéticos dos anos 20, à semelhança daquilo que Dziga Vertov vinha fazendo com imagens de arquivo, realizou, em 1927, A Queda do Império Romanov. A experiência adquirida na Goskino quer na edição do noticiário Novosti Vnya (Notícias do Dia), quer na remontagem e legendagem de filmes estrangeiros exibidos na União Soviética, permitiu-lhe familiarizar-se com a leitura das imagens. O seu método é, aliás, revelador de uma confiança quase ilimitada naquilo a que poderíamos chamar a lógica das imagens, ou seja, na possibilidade de encontrar nelas linhas de força a partir das quais se torna possível construir um argumento. Trabalhando com o arquivo do período czarista, Shub passou muito tempo nas salas de visionamento a analisar newsreels. A história que acabou por contar sobre a revolução de Outubro de 1917 e a deposição de Nicolau II serve-se de imagens originalmente destinadas a legitimar a figura do soberano e a justificar a estratificação classista da sociedade russa. Sendo um filme de montagem A Queda do Império Romanov reverte num exercício de história visual em que o virtuosismo de Schub lhe permite exprimir um ponto de vista de sinal contrário ao que havia presidido à captação das imagens.
Esta terceira tendência, apesar do experimentalismo de muitos dos seus filmes, valoriza a função informativa e, em meados dos anos 30, na época de ouro de newsreels como March of Time, confunde-se, por vezes, com o jornalismo, o qual, nessa altura, também não hesita em recorrer a dispositivos narrativos de alguns documentários, nomeadamente as reconstruções, desde que isso possa suprir lacunas na cobertura dos acontecimentos ou promover a dramatização das peças de modo a atrair o público. Sobre March of Time Paul Rotha considera até que, finalmente, “há o reconhecimento das possibilidades do cinema informativo (Rotha, 1970, p. 91).”, mas adverte que newsreels e documentários são coisas diferentes. Os primeiros obedecem a rotinas produtivas que respondem ao imediatismo das notícias, são expositivos, simples e descritivos. Os segundos, pelo contrário, requerem tempo e são construídos em termos de uma narrativa dramatizada. Contudo, admite que os trabalhos jornalísticos bem executados podem resultar em reportagens com inteiro cabimento no quadro da identificação do documentário (Rotha, 1970, p. 88).
Esta tendência do filme documentário partilha um território parcialmente comum ao da quarta tradição, a propaganda. Genericamente, considera-se propaganda um conjunto de actividades e de técnicas de informação e persuasão destinadas a influenciar e orientar as opiniões, sentimentos e atitudes das pessoas num determinado sentido. Etimologicamente, a palavra vem do latim propagare – ou seja, propagar ou multiplicar – tendo sido introduzida ao tempo da Contra-Reforma na bula Congregatio de Propaganda Fide do Papa Clemente VIII, em 1597. Utilizada para fins exclusivamente eclesiásticos e religiosos até ao século XIX passou depois, sobretudo com o pensamento marxista, a ser sinónimo de disseminação política e ideológica e viria a conhecer a partir da Revolução de Outubro de 1917 um uso cada vez mais próximo da doutrinação. Mas foi nesse contexto revolucionário que, segundo Rotha, se fizeram os avanços mais significativos quanto à evolução do documentário. Constata, aliás:
“… onde quer que o cinema se encontre ao serviço do lucro tem tendência para se situar na esfera da tradição do estúdio, ao passo que o cinema ao serviço da propaganda e da persuasão tem sido largamente responsável pelo método do documentário (Rotha, 1970, p. 92)”.
É sintomático que o trabalho teórico pioneiro de John Grierson – First Principles of Documentary –, redigido entre 1932 e 1934, e que antecipa a obra de Paul Rotha, coincide com um momento especialmente significativo da História da Comunicação Social, da qual Grierson foi observador atento e estudioso compulsivo. Contemporâneo da afirmação da rádio e do advento do cinema sonoro, a sua acção no movimento documentarista britânico coincide com a primeira grande explosão de mass media. Os seus primeiros textos foram concretizados quando se encontrava empenhado em formar a unidade de produção do Empire Marketing Board: o documentário estava destinado a cumprir uma função no âmbito da estratégia de propaganda do Império Britânico, o que lhe conferia uma dimensão retórica da qual a informação é indissociável.
Enunciação autoral
Em termos estéticos e de propósito social o filme documentário assume a plenitude no século XX procurando dar resposta à necessidade de entendimento resultante da complexidade crescente do mundo contemporâneo. A sua matriz, como se viu, é anterior ao advento do cinema sonoro e recolhe aí subsídios de vária ordem, designadamente do território partilhado com o jornalismo ou o proto - jornalismo.
Num artigo publicado em 1932, Joris Ivens afirmava :
“… o filme documentário deve ser olhado como uma categoria de filmes que está mais próxima das actualidades cinematográficas, reportagens e filmes culturais do que dos filmes encenados”. (Bakker, 1999, p. 228).
Segundo ele, só as imagens captadas directamente do real são elegíveis para serem consideradas documentos. O filme documentário, no entanto, não se confunde com a reportagem. Ivens exige ao cineasta uma atitude de abertura para com os temas e os protagonistas que não é compaginável com os critérios jornalísticos. Só assim ele poderá aceder à forma cinematográfica justa que é uma consequência das relações estabelecidas entre o autor e o seu sujeito, por um lado, e pelas imagens entre si num processo de múltiplas combinações. No caso das imagens há ainda uma lógica que lhes é inerente em função da qual surgem hipóteses narrativas determinantes da enunciação do real. Encontramos isso nos primeiros autores. Em termos meramente indicativos, vejamos três, cujos métodos de abordagem e contribuições teóricas, ainda antes do advento do som, marcaram o cinema em geral e o cinema documental em particular.: Robert Flaherty, Dziga Vertov e Sergei Eisenstein.

Com Flaherty, que rompe com a lógica do cinema de estúdio, estamos perante uma abordagem do real, cuja forma resulta não de qualquer argumento preconcebido – embora haja uma ideia –, mas do processo de descoberta que se vai estabelecendo no contacto com a paisagem, as personagens e as situações. As histórias de Flaherty só remotamente reflectem o presente. A sua visão do mundo é, de algum modo, arquetípica. O seu tema dominante é a família nuclear encarada numa perspectiva tradicional. Tanto em Nanook of the North (1922) quanto em Moana (1926), os seus dois primeiros filmes, passam ao lado da poligamia que existia entre os esquimós e o povo de Samoa. A natureza está sempre presente num sentido panteísta. Em Man of Aran (1934) o mar é a personagem em torno da qual se estabelecem as articulações narrativas e Em Louisiana Story (1948), o último e mais complexo dos seus filmes, tudo se passa entre o fascínio e o mistério dos pântanos daquela região da América, mas, em qualquer dos casos, uma vez mais, é a família que ocupa um lugar central.
Se Flaherty rompeu com a linha tradicional dos travelogue o ponto de partida de Vertov são as imagens factuais e uma opção pela crónica do quotidiano. Vertov rejeita igualmente o cinema de estúdio e, de uma forma radical, o argumento, mas a sua obra é, antes de mais, o corolário de um trabalho cujo sentido se confunde com as tarefas cometidas aos contemporâneos do mundo peculiar saído da Revolução Russa de 1917. Num contexto de propaganda, sendo construtivista, quis dar expressão formal à energia das máquinas, símbolo dinâmico do progresso e, portanto, do futuro, bem como à luta do homem pela transformação revolucionária da sociedade. O que o atraiu para o cinema foi a estreita relação entre o processo fílmico e os mecanismos do pensamento humano. Declarando não ter “qualquer interesse na chamada Arte” quis surpreender a vida sem artifícios. A sua teoria do Cine-Olho aponta nesse sentido propondo-se fazer do cinema uma linguagem universal, um instrumento de revelação e de conhecimento.
Embora partilhando do entusiasmo revolucionário de Vertov, Eisenstein pensava de forma diferente. Apostava no condicionamento psicológico por forma a suscitar a revolta do público no sentido de o conduzir ao sobressalto da tomada de consciência. Por isso, houve quem chamasse ao seu cinema Cine-Punho. Dada a circunstância de todo o cinema soviético ser da responsabilidade do estado e estar inscrito num contexto doutrinário, até os chamados filmes de ficção estavam subordinados a formas de produção, propósitos e métodos, cujos resultados de ordem social e estética os aproximavam do filme documentário. Isso é evidente em Vsevolod Pudovkin, Alexander Dovzhenko e, obviamente, Sergei Eisenstein. O que é que aproxima Eisenstein do filme documentário? As razões são de vária ordem. Por exemplo, os seus temas são os grandes acontecimentos associados a uma leitura marxista da História. Predomina o propósito social. Filma quase sempre fora do estúdio e utiliza tanto actores profissionais quanto não profissionais. Submete a actualidade a um rigoroso controle formal. Combina os processos narrativos de D. W. Griffith e de Flaaherty. Deste último diria que viu Nannok tantas vezes que o filme se gastou. Mas para Eisenstein raramente há heróis individuais. Tem nas massas o seu principal motivo de interesse. E detestava as actualidades cinematográficas de Vertov...
Concluindo
Em contrapartida, Charles Chaplin passava horas a ver newsreels e encontrava nelas motivos, situações e inspiração para os seus filmes. Buster Keaton também. Depois há toda a história dos chamados filmes de compilação. Os grandes documentários de propaganda da II Guerra Mundial dos mestres John Ford, Frank Capra, John Houston utilizam abundante footage de newsreels alemães, japoneses e italianos. Nos anos 60 do século passado, Emile de Antonio, faz a partir das imagens dos jornais cinematográficos e televisivos a desconstrução implacável do senador Joseph McCarthy, do presidente Richard Nixon e do ponto de vista oficial da guerra do Vietname. Em Zelig (1983) Woody Allen empreende uma digressão sobre os critérios da verdade e da construção da realidade centrada em newsreels dos anos 20 e 30, designadamente March of Time. Etc, etc, etc... Sim, estes são apenas alguns episódios de uma longa história que chega até aos nossos dias. Uma história de encontros, desencontros e derivas no que ao cinema documental e às suas relações com a actualidade diz respeito Num tempo de fake news, informação-mercadoria, consumidores e produtores de comunicação em rede e entropia generalizada talvez faça sentido recuperar a memória das coisas.

BIBLIOGRAFIA e FILMOGRAFIA
Bakker, Kees (editor) – Joris Ivens and the Documentary Context, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1999, p. 228.
Barnouw, Erik – El Documental – Historia y estilo, Editorial Gedisa, Barcelona, 1996.
Bénard da Costa, João – Histórias do Cinema, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, 1982.
EllIis, Jack C. and McLane, Betsy A. – A New History of Documentary Film, continuum, New York and London, 2005.
Félix Ribeiro, M. – Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896 -1949, Cinemateca Nacional, Lisboa.
Fielding, Raymond – The American Newsreel 1911-1967, University of Okla homa Press, Norman, 1982.
Fremoux, Thiérry – The Lumière Brothers first films, DVD, 1996.
Jacobs, Lewis (Selected, arranged and introduced by) – The Documentary Tradition, W. W. Norton & Company, New York - London, 1979.
Rotha, Paul (in collaboration with Road, Sinclair and Griffith Richard) – Documentary Film (The use of the film medium to interpret creatively and in social terms the life of the people as it exists in reality), Communication Arts Books, Hastings House, Publishers, New York, 1970.
Viallet, Serge – La Grande Aventure de la Presse Filmé, seriado documental em 4 episódios editado em DVD pela Warner Vision France, 2001.
Wenders, Wim – A Lógica das Imagens, Edições 70, Lisboa, 1990.
2015