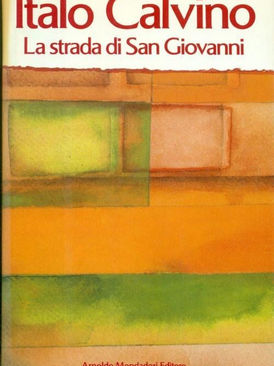- Jorge Campos
- 4 de out. de 2020
- 1 min de leitura
Atualizado: 22 de out. de 2023

Este filme é muito menos conhecido do que os anteriores mas merece ser visto. Trata-se de Mussolini: Último Acto (1974) de Carlo Lizzani. Lizzani fez dezenas de filmes ao longo de uma carreira de 60 anos e colaborou com alguns dos maiores como Rosselini, Pasolini e Godard. É daqueles cineastas absolutamente seguros no controle da narrativa. Mussolini - apesar de ter influenciado enormemente Salazar e de António Ferro sentir um verdadeiro fascínio pela sua figura expresso em diversas entrevistas - é hoje, surpreendentemente ou talvez não, pouco conhecido dos portugueses. Neste filme sobre os seus últimos dias, Lizanni mostra não o ditador arrogante e operático, mas um homem patético, perdido no desespero do seu labirinto, em fuga na companhia da sua amante Claretta Pettaci até ser detido e fuzilado pela resistência. Com Rod Steiger no papel principal e Henry Fonda como o cardeal do Vaticano que lhe facilita a fuga, o filme quase nos leva a sentir simpatia pelo homem afinal cobarde e incapaz de enfrentar a derrota com dignidade. Mas não se trata de complacência, sim de uma abordagem de onde os estereótipos estão ausentes e que, por isso, ganha outra espessura humana e, portanto, maior eficácia de potencial de reflexão.