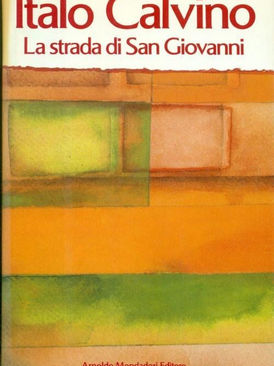- Jorge Campos
- 26 de nov. de 2020
- 20 min de leitura
Atualizado: 22 de out. de 2023

Se há momentos decisivos na História do Cinema e, em particular, do Cinema Documental, um deles remete certamente para os anos 20 do século passado na URSS. Numa altura em que revolução e propaganda convergiam na utopia de uma sociedade sem classes e na criação de um Homem Novo, o Cinema impôs-se como a mais importante das artes. Nesse laboratório de ideias, dois nomes sobrelevam os demais: Dziga Vertov e Sergei Eisenstein. Tiveram divergências e alimentaram polémicas. Ambos eram comunistas com filiação nas vanguardas artísticas e participaram nas transformações da Revolução de Outubro de 1917. Com o estalinismo, na fase de consolidação do realismo socialista, ambos foram acusados de formalismo. Posteriormente, ambos foram de certa forma proscritos e impedidos de dar asas à sua imaginação criadora. Mas aquilo que criaram nos anos 20 do século passado continua a ser fonte de ensinamento e objeto de reflexão. É disso que brevemente trata este texto escrito para um encontro sobre Filosofia, Literatura e Cinema.
Cinema, Filosofia e Literatura convergem nas obras de dois dos maiores cineastas de todos os tempos: Sergei Eisenstein e Dziga Vertov. Cinema, por razões óbvias. Filosofia, de certo modo, posto que ninguém como eles terá levado tão longe o pensamento sobre a sua própria praxis. Literatura, é mais complicado. Na verdade, rejeitando a cultura burguesa, ambos mantiveram distâncias e, no caso de Vertov, há mesmo uma recusa radical de qualquer eventual contaminação do cinema pela literatura. Sendo um construtivista, Vertov quis dar expressão formal à energia das máquinas, símbolo dinâmico do progresso e, portanto, do futuro, bem como à luta do homem pela transformação revolucionária da sociedade. O que o atraiu para o cinema foi a estreita relação entre o processo fílmico e os mecanismos do pensamento humano. Declarando não ter “qualquer interesse na chamada Arte” – a expressão é sua e revela a extensão do corte epistemológico com o pensamento burguês – Vertov quis dar corpo à vida tal qual, sem artifícios. Seria essa a função do Cinema.
Eisenstein tinha um ponto de vista diferente. Dada a circunstância de todo o cinema soviético ser da responsabilidade do estado e estar inscrito num contexto doutrinário, até os chamados filmes de ficção estavam subordinados a formas de produção quanto aos temas, propósitos e métodos, cujos resultados de ordem social e estética os aproximavam do filme documentário. Isso é evidente nos seus próprios filmes. Mas, ao contrário de Vertov, Eisenstein estava convicto da impossibilidade de captar a vida tal e qual. Homem de um saber enciclopédico, via no cinema a ferramenta ideal para perseguir objectivos políticos libertando a imaginação criadora. Para ele tudo era artifício, rigor, emoção, dialéctica, linguagem: revolução.
Dziga Vertov e a proporção leninista do filme
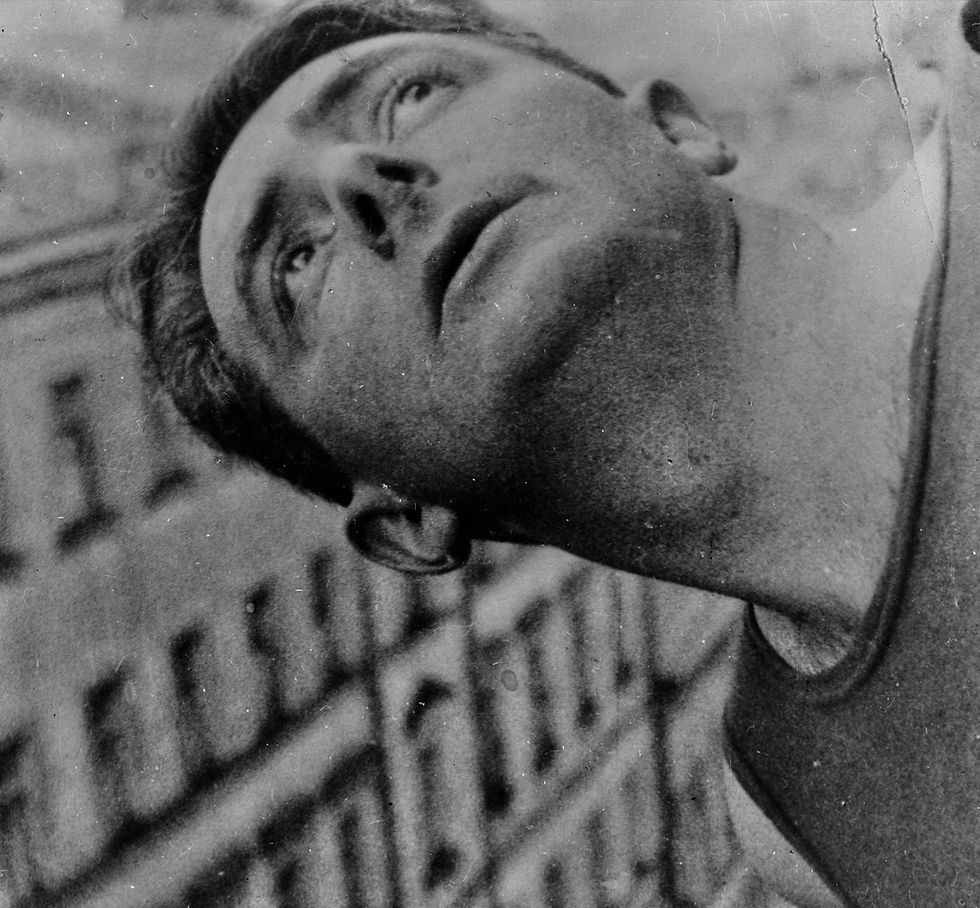
Dziga Vertov é o pseudónimo de Denis Arkadievitch Kaufman. Dziga é uma palavra ucraniana que pode significar coisas tão diversas quanto toupeira ou roda que gira sem parar. Vertov vem do russo vertet que pode querer dizer girar. Tudo junto, Dziga Vertov poderia representar algo como movimento perpétuo, o que tem tudo a ver com as correntes futuristas e construtivistas. Natural de Bialysto, na Polónia, então uma província da Rússia czarista, Vertov teve uma educação orientada para a arte e literatura revelando, desde muito cedo, uma propensão especial para a poesia e para a música.
Em 1915, após a invasão da Polónia pelas tropas alemãs, a família refugiou-se em Moscovo. Daí foi para São Petersburgo onde, nos dois anos seguintes, a par de estudos universitários, estabeleceu relações com uma elite intelectual influenciada por Maiakovski, Burlyuk, Khlebnikov e Kruchonykh, os autores do célebre manifesto Uma Bofetada no Gosto do Público. Por essa altura, começou também a desenvolver experiências no domínio do som tendo criado um Laboratório do Ouvido, no qual, com recurso a um fonógrafo, gravou a voz humana e sons da rua, a partir dos quais fez engenhosas montagens de poemas. No seguimento da Revolução de Outubro de 1917, decidido a trabalhar no cinema, rumou a Moscovo e, na Primavera de 1918, foi nomeado redactor responsável pelo primeiro jornal de actualidades do governo soviético, o Kino-Nedelia.
Lenine é apontado como tendo sido o primeiro homem de estado a encarar o cinema como uma ferramenta ao serviço de uma lógica revolucionária indissociável da agitação e propaganda (agit-prop). Em 1963, num artigo publicado na revista Iskusstvo Kino, Bontch-Bruievitch recorda uma conversa acalorada com Bogdanov, em 1917:
“Vladimir Ilitch escutava a conversa com atenção, meteu-se nela imediatamente e começou a desenvolver a ideia de que o cinema, enquanto estivesse nas mãos de vulgares comerciantes, faria mais mal do que bem, corrompendo frequentemente as massas através do conteúdo ignóbil das suas obras. Mas, naturalmente, quando as massas se apoderassem do cinema e quando ele se encontrasse nas mãos de verdadeiros militantes da cultura socialista, apareceria então como um dos mais poderosos meios de instrução” (Granja, 1981, p. 15).
Ao contrário do que por vezes se pensa, a Rússia pré-revolucionária dispunha de uma indústria cinematográfica relativamente desenvolvida. Havia 25 produtoras que davam saída a quinhentos filmes por ano e o país tinha mais de mil salas, nas quais a produção nacional representava 60 por cento do total das obras exibidas. Em 27 de Agosto de 1919, Lenine decretou a nacionalização do cinema.
As concepções respeitantes à produção soviética dos primeiros tempos defendiam a necessidade de um cinema capaz de reflectir sobre o quotidiano, o qual, segundo Lenine, encontraria na crónica a sua expressão mais adequada. Nunca antes alguém se referira ao cinema nestes termos. A crónica é um género jornalístico que autoriza o autor não só a reportar sobre a actualidade, mas também a comentá-la de um modo pessoal e impressionista. As actualidades cinematográficas deram acolhimento a essa ideia. Durante a guerra civil que opôs vermelhos a brancos – simpatizantes do antigo regime apoiados por tropas estrangeiras –, no meio de dificuldades de toda a ordem como a penúria da energia eléctrica, a diminuição para menos de metade do número de salas e os stocks de película praticamente esgotados, foi dada prioridade à produção de filmes informativos.
Competia a Vertov reunir e seleccionar as imagens provenientes das diversas frentes, organizá-las na mesa de montagem e fazê-las seguir de comboio para que povo e soldados pudessem ter conhecimento do que estava a acontecer na perspetiva do poder revolucionário. Pelo caminho esses “comboios da propaganda” paravam na maioria das estações ferroviárias para que os filmes pudessem ser exibidos e comentados como Chris Marker bem mostrou em Le Tombeau d’ Alexandre (1993), um documentário dedicado ao cineasta soviético Aleksandr Medvedkin, figura central da memória desse tempo.
A Cine-Sensação do Mundo
Vertov parte da matriz de newsreels – palavra que em inglês enfatiza a componente das notícias mais do que actualités, em francês, ou atualidades em português – para definir um percurso durante o qual a lógica informativa vai passar por diversas metamorfoses. Mas o Kino-Nedelia (Cine-Semanal) ainda está próximo dos jornais produzidos, por exemplo, pela Pathé ou pela Gaumont.
Em 1918-19, são elaborados 43 noticiários, todavia, sem a regularidade prevista, dadas as dificuldades existentes. Em todo o caso, esta experiência permite a Vertov não apenas aperceber-se do potencial retórico das imagens, mas também das possibilidades da montagem. A partir do arquivo que, entretanto, foi juntando, produziu um primeiro documentário de três horas, dividido em 12 partes, ao qual chamou O Aniversário da Revolução (1919). Este filme, merecedor do aplauso de Eisenstein, é considerado a primeira tentativa de montagem criativa da cinematografia soviética.
Numa segunda fase, já no final do ano de 1919, Vertov segue para a linha da frente acompanhado pelo operador de câmara Ermolov. Dessa experiência resulta A Batalha de Tsaritsyne (1920) onde, pela primeira vez, há sinais de como Vertov viria a encarar a câmara de filmar no processo de construção da realidade. Tanto assim que, em 1922, quando o Kino-Nedelia dá lugar ao Kino-Pravda (Cine-Verdade), aquilo a que se assiste já pouco tem em comum com os jornais de atualidades de outros países. Vertov faz tábua rasa das convenções. Proclama a impossibilidade de imagens banais permitirem a interpretação do mundo e desenvolve uma montagem agressiva. Numa entrevista inédita publicada após a sua morte em 1958 no nº 6 da revista Iskusstvo Kino, Vertov afirma que o Kino-Pravda não era apenas um vulgar jornal filmado:
“Este jornal (...) tinha a particularidade de estar sempre em movimento, de mudar constantemente de um número para o outro. Cada novo Kino-Pravda era diferente daquele que o precedia. O método de narração obtido pela montagem mudava sempre. Tal como a maneira de tratar a filmagem. E também o carácter das legendas e a maneira de as utilizar. O Kino-Pravda esforçava-se por dizer a verdade através dos meios de expressão cinematográfica. Neste laboratório, único no seu género, o alfabeto da linguagem cinematográfica começava a formar-se lentamente, obstinadamente. Alguns números do Kino-Pravda, que tinham a ambição de apresentar um tema em profundidade, adoptavam já as proporções das longas metragens. Foi nessa época que as discussões apareceram, que partidários e adversários se manifestaram. Os debates sucederam-se. Mas a influência do Kino-Pravda não deixou de se estender” (Granja, 1981, p. 54).
As teses de Vertov são indissociáveis da recusa do cinema comercial, tido como uma espécie de veneno ideológico do espírito crítico das massas. O seu pensamento teórico ganha espessura para fundamentar a linha do Kino-Pravda. Funda o Soviet Troikh (Conselho dos Três), do qual fazem parte, além dele próprio, a sua futura mulher Elisabeta Svilova, uma notável montadora de filmes, e o seu irmão, Mikhail Kaufman, famoso operador de câmara e, mais tarde, documentarista. No seu primeiro manifesto publicado no final de 1922, intitulado Nós, o grupo, entretanto auto-denominado Kinoki-documentaristas, interdita a encenação diante da câmara de filmar, ao mesmo tempo que reivindica a cine-sensação do mundo como forma de aceder à consciência crítica. No jornal Pravda de 19 de Julho de 1924, Vertov escreve:
“Milhões de trabalhadores, recuperando a vista, começam a duvidar da absoluta necessidade de sustentar a estrutura burguesa do mundo. Nesta grandiosa batalha cinematográfica, pelo nosso lado, não participa qualquer realizador, actor ou decorador – recusamos as facilidades do estúdio, varremos os cenários, a caracterização, o guarda-roupa (...) Quer se apresente sob a forma de uma narrativa cativante ou daquilo que se denomina uma folha de montagem preliminar, o argumento, que é um elemento estranho ao cinema, deve desaparecer para sempre” (Granja, 1981, p. 49).

Na sua defesa de um cinema de não-ficção liberto do teatro e da literatura, Vertov acompanha a ideia inicial de Lenine segundo a qual 75 por cento da produção soviética deveria ser virada para a crónica do quotidiano. Posteriormente, em 1925, retomando aquilo que ficou conhecido como “a proporção leninista do filme” (Graham, 1999, p. 40), insurgiu-se contra a percentagem do orçamento do cinema destinada aos filmes de ficção, que calculou em 95 por cento, e avançou com uma proposta alternativa de utilização de recursos que atribuía 45 por cento das verbas ao Cine-Olho, 30 por cento aos filmes científicos e educativos e 25 por cento aos filmes de ficção. Na mesma linha de pensamento propôs o alargamento do documentário à rádio e defendeu o alargamento dos jornais radiofónicos.
O Kine-Olho
O processo evolutivo dos jornais cinematográficos de Vertov tem o seu ponto de viragem a partir do momento em que começa a colaboração com Rodchenko no número 13 do Kino Pravda e culmina com Kino-Glaz (Cine-Olho), um filme de não-ficção realizado em 1924, no qual rompe com as convenções narrativas para se aventurar por caminhos até então inexplorados.
Kino-Glaz principia de uma forma bastante prosaica com imagens de jovens pioneiros nas suas actividades – eles são o símbolo de homem novo que a Revolução se propõe construir. Parte depois para um discurso sobre o preço da carne do qual se conclui pela necessidade de formar cooperativas, de modo a eliminar o papel de intermediários parasitas. É então que o filme volta para trás, literalmente, num efeito que hoje nos pode parecer ingénuo, mas através do qual Vertov dá a entender ser indispensável banir os procedimentos especulativos. A partir daí, à medida que o filme mostra o caleidoscópio da sociedade soviética, há um criar de atmosferas que por vezes se aproximam ora do surrealismo dos primeiros filmes de Buñuel, ora da matriz observacional muito posterior dos documentários de Frederick Wiseman, como acontece nas cenas do asilo de alienados. Kino-Glaz não perde a sua função informativa nem deixa de ser expositivo, mas percebe-se que mais do que a pretensão à objetividade valoriza a reflexão.
Essa linha de pensamento enfrenta a incompreensão dos aparatchiks. Eles reconhecem apenas modelos de comunicação lineares de causa e efeito e não podem entender a cine-sensação do mundo, bem como os pressupostos da visão activa da câmara de filmar. Parte do público parece dar-lhes razão, só entra nas salas para assistir ao filme de fundo após a passagem do noticiário. Coerente com os seus princípios, Vertov defende-se dizendo ser necessário mudar o público. Leva as suas atualidades até às associações operárias e camponesas, Identifica o cinema como uma linguagem nova, total e infalível. Nos seus escritos, que por essa altura se multiplicam dando origem a numerosas polémicas, a palavra cine-olho aparece recorrentemente para afirmar a superioridade do olho da câmara sobre o olho humano:
“O cine-olho é o cinema explicação do mundo visível, ainda que esse mundo seja invisível para o olho humano” (Romaguera I Ramio, Joaquim y Thevenet,1989, p. 33).
Ou ainda:
“A história do cine-olho foi a de uma luta implacável para mudar o curso da atividade cinematográfica (…) para substituir a mise-en-scène pelo documento, para sair do proscénio do teatro e entrar no campo de batalha da própria vida” (Barnow, 19, p. 59).
A Kino-Glaz (1924) seguiram-se, em 1926, Shagai, Soviet! (Avante, Soviéticos!) e Shestaya Chast Mira (Uma Sexta Parte do Mundo), do qual Chris Marker viria a dizer tratar-se do melhor documentário de sempre. Em 1929, Vertov fez a sua obra mais radical, Chelovek Kinoapparatom (O Homem da Câmara de Filmar), um retrato da sociedade soviética e, simultaneamente, um ensaio sobre os mecanismos do cinema. Na entrevista de 1958 à revista Iskusstvo Kino, explicava-se:
“Porque motivo não faríamos um filme acerca da cine-linguagem, o primeiro filme sem palavras, um filme internacional que não tivesse necessidade de ser traduzido em qualquer outra língua? (...) Porque motivo (…) não tentaríamos nós descrever com esta linguagem o comportamento de um homem vivo, os actos realizados em diversas circunstâncias por um homem com uma câmara de filmar?” (Granja, 1981, p. 55).
O Homem da Câmara de Filmar

Com O Homem da Câmara de Filmar Dziga Vertov atinge o zénite criativo. Construído a partir de material filmado nos anos de 1924-28 pelos seus kino-documentaristas o filme é o último grande manifesto do cinema soviético. Mikhail Kauffman, o homem da câmara, observa através da objetiva o real circundante como que a dizer-nos que o mundo, na aparente banalidade do quotidiano é, afinal, muito mais interessante do que poderíamos supor. Esse real sofre uma dupla metamorfose. Num primeiro momento, o olho da câmara selecciona e interpreta. Num segundo momento, o material filmado é organizado na mesa de montagem onde se cumpre a segunda etapa da passagem do real a realidade, a qual, por sua vez, é, evidentemente, uma construção ideológica consequente da linguagem do cinema.
O filme convoca uma leitura plural e encerra um paradoxo magnífico, ou seja, suscita novas contradições no âmbito da tese que se propunha demonstrar. Apesar do real observado e surpreendido pelo olho da câmara e da ausência de atores, artifícios de iluminação, cenários artificiais e de tudo o mais que Vertov recusava, nem por isso deixa de ser encenação. Uma outra encenação, diga-se, posto que o imprevisível o afasta do chamado cinema de mensagem. Nele, o meio é a mensagem, mas sem que isso seja equivalente a algum tipo de determinismo tecnológico. Sim, a tecnologia é indutora de linguagens, mas a estas só a aprendizagem e a descoberta permitem aceder.
Por isso, a história – a havê-la – resulta da intervenção do destinatário em função quer da sua experiência pessoal, logo da cultura, quer do seu domínio da sintaxe do cinema, ela própria dinâmica, porque, afinal, o cinema está sempre a reiventar-se. Assim encarado, o cine-olho sugere a presença de um demiurgo – a câmara de filmar – capaz de levar o homem ao longo de um percurso com o intuito de lhe proporcionar a oportunidade de ver claramente visto. Esse percurso, porém, está nos antípodas da facilidade. É feito de marcas que é preciso seguir, identificar, ler e reinterpretar sem garantia de uma via única. É, ao fim e ao cabo, o processo segundo o qual, na filosofia marxista, é indispensável aceder a um nível de consciência superior – a consciência de classe – com vista à construção do homem novo.
O Homem da Câmara de Filmar remete, portanto, para um tipo de conhecimento que exige uma espécie de distanciamento brechtiano. Ao espectador impõe-se uma atitude vigilante face ao espaço do ecrã e aos dispositivos que o condicionam. É a partir dessa distância crítica que ganha espessura a revelação do real, não num sentido de uma verdade irrefutável, antes num contexto de abertura de possibilidades onde cada um poderá encontrar um lugar particular ainda que num quadro de referências previamente determinado de acordo com o ponto de vista do autor.
Quando, em 1929, Vertov mostrou O Homem da Câmara de Filmar, ter-se-á encerrado simbolicamente o ciclo em que a imagem foi rainha e a montagem determinante. Nesse ano, o cineasta visitou Paris, onde deparou com uma restrita vanguarda cinéfila entusiasmada com o cinema da União Soviética onde, por sinal, o seu filme tinha sido recebido com mais reserva do que entusiasmo, suscitando, nos círculos oficiais, insinuações de formalismo. Para mais, ao rejeitar o argumento como veículo de concretização dos seus filmes, Vertov tornara-se suspeito de perfilhar um ponto de vista anti-planificador.
Nesse mesmo ano de 1929, o Partido Comunista (PCUS) produziu uma normativa segundo a qual a maioria dos trabalhadores da indústria cinematográfica deveria ser de origem proletária e a Associação de Trabalhadores Revolucionários da Cinematografia decretou como fim último destacar os êxitos do Plano Quinquenal...
Sergei Eisenstein e a sensorialidade do corte
Tal como Vertov, também Sergei Eisenstein, nascido em Riga, na Letónia, em 1898, foi influenciado pelo ambiente familiar no interesse pela arte. Estudou no Instituto de Engenharia de Petrogrado. Quando do derrube do Czar, os pais partiram para a Europa mas ele optou por alistar-se como engenheiro no Exército Vermelho. Durante dois anos, dedicou-se a construir pontes. Depois, seguindo a sua inclinação artística, começou a desenhar cartazes de propaganda. Um acaso tê-lo-á levado até ao mais famoso teatro de Moscovo, na linha do Proletkult, onde leccionavam Stanislavsky e Meyerhold. Apaixonado pelo teatro, o jovem Eisenstein alimentava suspeitas quanto ao cinema que considerava um meio pobre. Contudo, na tentativa de demonstrar a superioridade do primeiro sucumbiu ao fascínio do segundo.

Eisenstein foi discípulo de Meyerhold. Tributário da comedia dell´arte e do romantismo alemão, Meyerhold procurou identificar o papel do ator no contexto de um teatro desverbalizado, entendido como uma forma de conhecimento puro, veloz, plasticamente associado à importância atribuída à expressão corporal. O corpo do ator seria uma espécie de máquina bem oleada, na tradição popular da pantomima, devendo movimentar-se, como então se dizia, num registo combinado da disciplina militar e do rigor da álgebra. Esta concepção, que remete para a biomecânica, opunha-se à de Stanislavsky, de índole mais psicológica e naturalista.
Quer no teatro, quer no cinema de Eisenstein são evidentes as marcas de Meyerhold. Exemplo é a utilização da tipagem, o processo que permite o reconhecimento imediato dos traços de carácter das personagens em função da importância atribuída ao corpo, vestuário e fisionomia dos actores. O mesmo poderia afirmar-se a propósito da montagem de atrações ligada a uma gama de recursos expressivos nos quais avultam, por exemplo, o circo e outras formas de cultura popular. Para Eisenstein a atração é a unidade de significação que cabe num discurso global orientado para a estimulação sensorial e psicológica do espectador, de modo a dirigir e condicionar o seu envolvimento emotivo.
Esta linha de pensamento, complementada pelo universo conceptual de Pavlov, tem pontos de contacto com os seus trabalhos teóricos sobre a montagem cinematográfica, nos quais se reconhecem os princípios da dialéctica marxista: uma força (tese) colide com a sua contrária (antítese), de modo a produzir um fenómeno novo (síntese). A síntese, evidentemente, não corresponde a um mero somatório da tese e da antítese. É algo de diferente. Dito de outra maneira, o plano, ou ‘célula de montagem’, é uma tese; quando colocado em justaposição com outro conteúdo visual oposto – a sua antítese – produz uma síntese, uma ideia sintética ou impressão, a qual, por sua vez, se transforma na tese de um novo processo dialéctico. A montagem dialéctica resulta, portanto, da colisão de diferentes planos independentes. Utilizando uma metáfora industrial, Eisenstein comparava esse processo “à série de explosões de um motor de combustão interna, levando para diante o automóvel ou o tractor” (Campos, 1994, p. 74).
Em princípio, a montagem tem a idade do cinema, mas é evidente que ela só é encarada em termos de produção de sentido quando as imagens em movimento se distanciam da mera reprodução do real e o cinema corta as amarras com o ‘teatro filmado’. O passo decisivo nesse sentido foi dado por David Wark Griffith. Com ele nasceu o cinema arte, o cinema espectáculo e o cinema grande indústria que viria a ter Hollywood como epicentro. The Birth of a Nation, realizado em 1914-15, vale como exercício narrativo e, nessa qualidade, é um filme paradigmático. Apresentando os cavaleiros brancos da Ku Klux Klan como salvadores da velha sociedade aristocrática e esclavagista do Sul dos Estados Unidos, desencadeou protestos e tumultos. O pendor racista amarrou-o à polémica. Até hoje. Porém, a linguagem do cinema atingiu a maioridade com The Birth of a Nation. Ao variar o ponto de vista da câmara, ao trabalhar a plasticidade das imagens, ao combinar planos de diferentes tamanhos Griffith abriu caminho à articulação sequencial reveladora da natureza semântica do corte. Por essa via, descobriu, igualmente, o ritmo subjacente à estrutura narrativa.
Eisenstein foi mais longe. Estudioso de Griffith, mas também admirador de Chaplin, Eisenstein elaborou a parte mais significativa de toda a produção teórica sobre a montagem no cinema. Apoiado nas experiências de Kuleshov, demonstrou como o significado do plano ou da sequência depende de outros planos ou sequências que lhes estejam associados. Para Kuleshov a montagem era o traço distintivo do cinema. Segundo ele, os planos deviam ser simples e expressivos de modo a proporcionarem clareza de leitura. Valorizou o ritmo a ponto de afirmar ser ele o verdadeiro conteúdo de um filme, visto orientar o pensamento e as emoções do público. O Eisenstein dos anos 20 tomou boa nota da lição. Assim como das teses de Vertov, das quais frequentemente discordou.
O Kine-Punho

Embora contrário à tendência documentarista – “não acredito no cine-olho, acredito no cine-punho” (Wollen, 1984, p. 43) – Eisenstein atribuía a Vertov a invenção do ritmo musical no cinema, “conduzindo o andamento do filme por via do ritmo calculado do corte” (Wollen, 1984, p. 51). Boa parte da tipologia da montagem de Eisenstein – a qual, pela sua complexidade, exigiria outro texto – é, aliás, justificada através da analogia com elementos musicais. Fiel, por um lado, à ideia de que a obra de arte se destina a produzir emoção e, por outro, a uma concepção materialista do mundo, não hesitou em utilizar o cine-punho como arma para elevar a consciência política das massas:
“Se queremos que o espectador experimente uma tensão emocional máxima, pô-lo em êxtase, devemos oferecer-lhe uma fórmula adequada que eventualmente provoque nele as emoções desejáveis” (Wollen, 1984, p. 51).
No entanto, a um comunista colocar-se-ia sempre a questão de saber como compatibilizar a proposta do homem novo do iluminismo marxista com o carácter sensorial, emotivo, dos procedimentos inerentes ao corte e à sua função significante. Eisenstein seguramente ter-se-á dado conta dessa contradição. Procurou por diversas vezes lidar com ela, designadamente através daquilo a que chamou montagem vertical, segundo ele a mais adequada para veicular teses ideologicamente dirigidas convocando razão e emoção. Na prática, porém, esta sua ideia nunca foi suficientemente desenvolvida deixando em aberto o projecto que lhe estava subjacente de fazer um cinema que fosse a síntese da arte e da ciência numa perspetiva revolucionária.
Os filmes de Eisenstein dos anos 20, sendo inclassificáveis, têm pontos em comum com o documentário. Estamos perante acontecimentos do presente ou do passado em que os indivíduos são encarados numa perspectiva relacional com as instituições, de modo a fazer emergir os aspectos de ordem política, económica e social como elementos nucleares da narrativa. A Greve (1924) parte de um conflito laboral para se interrogar sobre a consciência de classe. Aqui é patente a influência de Meyerhold e da montagem das atrações. O Couraçado Potemkin (1925) evoca um episódio da revolução russa de 1905, a revolta dos marinheiros de um navio de guerra contra a hierarquia de bordo, para construir uma metáfora da Revolução social. Na célebre sequência da escadaria de Odessa constrói uma imagem da repressão e do conflito de classes sem paralelo na história do cinema. Na sua versão completa o filme dura 86 minutos à velocidade do cinema mudo – 16 imagens por segundo – enquanto O Nascimento de uma Nação de Griffith tem a duração de 195 minutos, ou seja, mais do dobro. Em ambos os filmes há, porém, um número quase idêntico de planos: 1.346 no caso de Eisenstein e 1.375 no caso de Griffith. Se a isto se juntar o facto de cada plano de O Couraçado Potemkin ser rigorosamente planeado facilmente se percebe a envergadura conceptual do autor do filme. Outubro (1928), concebido para assinalar o 10º aniversário da tomada do poder pelo partido de Lenine, faz a reconstituição da conquista do Palácio de Inverno em São Petersburgo e do derrube do governo de Kerenski por forma a inferir a legitimação do poder soviético. A Linha Geral (1929) funciona como uma espécie de Kino-Pravda alargado e aborda o quotidiano de uma cooperativa agrícola, contrapondo o velho e o novo. Esta é a obra de Eisenstein na qual são levadas mais longe as alegorias sexuais e mais se faz sentir a influência de Freud, designadamente, na sequência da desnatadeira, metáfora da libertação dos preconceitos através da sugestão do orgasmo.
Onde estes filmes – pensados como épicos e construídos em cinco partes à maneira da tragédia clássica, mas com um único coro que se identifica com a voz do herói colectivo, o povo – mais se afastam da tendência documentarista é nas reconstituições históricas e nas cenas de inspiração mais marcadamente teatral, que são tanto um reflexo da imaginação criadora e da passagem do autor pelo Proletkult, quanto uma consequência das suas concepções estéticas ligadas às agora designadas Teorias Formalistas do Cinema, das quais, aliás, é o maior expoente.
Como resultado de uma notável energia criadora, a cada filme seu estão associadas teses correspondentes a um trabalho teórico de mais de 30 anos. Em O Couraçado Potemkin (1925), por exemplo, são patentes as marcas dos diferentes tipos de montagem por ele identificados. No conjunto da sua obra, que vai para além do advento do som, encontram-se referências tão distintas quanto as que decorrem do seu fascínio pelo teatro kabuki, pela psicanálise ou pela utilização da música e da cor. Nessa torrente de pensamento criou numerosos conceitos. Por exemplo, na linha dos construtivistas, designou por neutralização o processo de decomposição da realidade em blocos ou unidades em tensão dialéctica, não obedecendo a uma qualquer ordem de significação hierárquica.
A abrangência e complexidade do seu trabalho marcou a distancia para outros gigantes seus contemporâneos, nomeadamente Vsevolod Pudovkin. Este acreditava que a intervenção do realizador devia incidir sobre a escolha adequada e posterior organização de aspectos do real que, sendo pré-existentes ao filme, continham em si mesmos um sentido destinado a ser esclarecido através do cinema. Nesta perspectiva, as propostas de Pudovkin estão mais próximas do realismo do que as de Eisenstein. Mas, em qualquer dos casos, como de resto aconteceu com a generalidade dos cineastas soviéticos dos anos 20, estava em causa fazer um cinema indissociável da vida, capaz de a reinventar através de um processo incessante de busca da forma certa para dizer o que se julgava necessário ser dito. Mais tarde, Eisenstein diria em A Forma do Filme:
“Como arte genuinamente maior, o cinema é único porque, no sentido pleno do termo, é um filho do socialismo. As outras artes têm séculos de tradição atrás de si. Os anos cobertos por toda a história da cinematografia são menos do que os séculos durante os quais as outras artes se desenvolveram. Porém, mais essencial é que o cinema como uma arte em geral e, alem disso, como uma arte não apenas igual, mas em muitos aspectos superior às suas artes companheiras, começou a ser considerado seriamente apenas com o início da cinematografia socialista” (Eisenstein, 2002, p. 164).

Conclusão
A derradeira citação é uma consequência da experiência de Eisenstein em diversos países europeus, nos Estados Unidos e no México na viragem da década de 20 para a década de 30. Nessa altura, apesar da censura, os filmes soviéticos passavam em circuitos mais restritos e suscitavam o entusiasmo de elites tão interessadas no Cinema quanto na Revolução. Vertov teve igual receptividade em França. Certamente, as ideias de Eisenstein resultaram mais da curiosidade do artista e do visionário do que propriamente dos métodos de uma qualquer ciência exacta. O mesmo é aplicável a Vertov. Mas, por isso mesmo, o pensamento de ambos tem singular alcance prospetivo, porventura ultrapassando até o universo do cinema para se estender ao plano da teoria e da linguagem de outros media e, em particular, da televisão. A ênfase posta nos processos fisiológicos e sensoriais nas suas relações com o cinema antecipa, de algum modo, aspectos do pensamento contemporâneo como sucede com Marshall McLuhan. Na medida em que se estabelece um vínculo entre o que se considera ser a natureza de um medium e a sua linguagem abre-se, por outro lado, o caminho à fundamentação que autoriza a identificação de discursos e narrativas. Tal como na Literatura, também no cinema há metáforas, alegorias, figuras de estilo, subtextos. Sim, o Cinema precisa de ser pensado e as imagens carecem de ser lidas. E, expurgadas dos aspectos mais datados da ideologia, as obras de Vertov e Eisenstein continuam a desafiar o conformismo inscrevendo-se no plano da cidadania.
BIBLIOGRAFIA
AUFDERHEIDE, Patricia – Documentary Film - A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York 2007.
BARNOUW, Erik – El Documental – Historia y estilo, Editorial Gedisa, Barcelona, 1996.
BORDWELL, David – El Cine de Eisenstein, Paidós, Barcelona, 1999.
CAMPOS, Jorge – A Caixa Negra- discurso de um jornalista sobre o discurso da televisão, Edições Universidade Fernando Pessoa, Porto, 1994.
COUSINS, Mark & MACDONALD, Kevin – Imagining Reality, Faber and Faber, London, 2006.
DANEY, Serge – Postcards From Cinema, Berg, Oxford & New York, 2007.
EISENSTEIN, S. M. – Obras Escolhidas, Edições Yusskússtvô, Moscovo, sem data.
- Da Revolução à Arte, da Arte à Revolução, Editorial Presença, Lisboa, sem data.
- A Forma do Filme, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2002.
- O Sentido do Filme, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2002.
ELLIS, Jack C. and McLANE, Betsy A. – A New History of Documentary Film, continuum, New York and London, 2005.
GILLESPIE, David – Early Soviet Cinema - Innovation, Ideology and Propaganda, Wallflower, London, 2000.
GRANJA, Vasco – Dziga Vertov, Livros Horizonte, Lisboa, 1981.
ROBERTS, Graham – Forward Soviet! : history and non-fiction film in the USSR, I. B. Tauris, London, 1999.
ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim y THEVENET, Homero Alsina (Eds.) – Textos e Manifiestos del Cine - Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones, Ediciones Catedra - Signo e imagen, Madrid, 1989.
SADOUL, Georges – História do Cinema Mundial (Três Volumes), Livros Horizonte, Lisboa, 1983.
- Dicionário dos Cineastas, Livros Horizonte, Lisboa, 1993.
WOLLEN, Peter – Signos e Significação no Cinema, Livros Horizonte, Lisboa, 1984.
VERTOV, Dziga – El Cine-Ojo, Textos e Manifiestos, Editorial Fundamentos, Madrid, 1973.
Publicado em: (Im) possíveis (trans) posições, Ensaios Sobre Filosofia, Literatura e Cinema, Zéfiro, 2014.